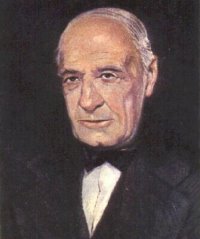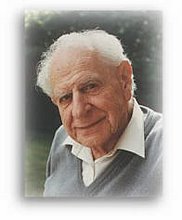Apontamento sobre a história da cosmologia - A. I.
Como vimos, no ano lectivo passado, na unidade relativa à religião, o homem religioso que emerge desde as mais remotas eras da humanidade, expressa, nas suas crenças, a necessidade de se sentir situado num cosmos ordenado (cosmos opõem-se a caos, nos gregos antigos) pelas forças sagradas, quer no espaço, quer no tempo. Tal como na infância individual do homem, apesar de se sentir esmagado por poderes superiores, necessita de sentir o centro das atenções desses mesmos poderes. A cosmologia que por todo o lado emerge desde a mais remota antiguidade, corresponde-se a estas necessidades: um mundo finito no tempo e no espaço, com a terra no seu centro, criado pelas forças divinas que, de uma forma ou de outra, se ligam aos céus que são considerados, fisicamente, transcendentes ao nosso nível de realidade.
A história a que me vou referir, em traços muito vagos e genéricos, é também a história de como os homens ficaram órfãos dos deuses e de como, ainda hoje, tentam recuperar os seus pais e, com eles, o sentido para a sua existência através da explicação de de onde vimos, para onde vamos e onde, simplesmente, estamos.
Não é de estranhar que, quando o homem rompeu com as explicações fantásticas da realidade (não só na Grécia, mas, como vimos no ano transacto, noutros locais), tendesse a reproduzir os traços gerais das explicações míticas: um mundo finito, originado num tempo longínquo (muito embora a explicação fosse, agora, racional, quer através de forças naturais, quer por acção de um Deus Universal, quer por acção de princípios místicos abstractos), com centro na Terra e uma concepção mais ou menos transcendente dos céus. Sendo estas as características da cosmologia primitiva, é também fácil enunciar quais os problemas que se desenvolverão ao longo da história da cosmologia: 1º O centro do mundo: se o centro do mundo será a Terra (geocentrismo) ou o Sol (heliocentrismo) – e, no final, se sequer tem centro; 2º A contraposição entre heterogeneidade ou homogeneidade do mundo: se a física celeste é a mesma ou diferente (normalmente, transcendente) da da Terra; 3º Se existimos num mundo fechado ou num Universo infinito, quer no espaço, quer no tempo.
Não são apenas as necessidades psíquicas que explicam a concepção primitiva do cosmos. Qualquer pensamento baseado na experiência sensível, na observação empírica, tende para ele. Vemos o Sol rodar à volta da Terra, não vemos nos céus a variedade, a mistura, a corrupção e a morte que vemos na Terra, vendo, ao contrário, uma regularidade matemática que não encontramos em nenhuma coisa terrestre, e, finalmente, não podemos ter qualquer experiência do infinito. Esta última questão será, aliás, a última fronteira entre os espíritos empíricos e os espíritos especulativos, porque, se a concepção geocêntrica terá que se confrontar com cada vez maiores dificuldades empíricas e a defesa da heterogeneidade do mundo acabará por colidir com melhores observações (telescópio de Galileu), a finitude do mundo, quer temporal, quer espacial, não poderá nunca ser desmentida por qualquer experiência imaginável, pois só existe experiência do finito, só sendo questionável por concepções metafísicas e/ou matemáticas.
Na Grécia Antiga, embora a tripla tendência já referida se afirmasse maioritariamente, a dupla tensão da racionalidade, empírica, por um lado, especulativa, por outro, levou a que surgisse todo o tipo de respostas às questões centrais da cosmologia, embora não de uma forma uniforme, onde fosse possível identificar, facilmente, as concepções progressistas e as concepções retrógradas. Por exemplo, Anaxágoras de Clazómenas (assim como os atomistas), filósofo do sec. V a. C. (500-427), parece ser um dos progressistas, visto parecer defender uma infinidade de mundos e a homogeneidade do universo. Porém, não só coloca a Terra no centro do nosso mundo particular (ou sistema), como a concebe plana, a flutuar no ar. Ao contrário, Aristóteles (384-322 a.C.), que parece personificar os conservadores, não só concede a forma esférica à Terra, como concebe o mundo como eterno, contrariamente a Anaxágoras e à maioria dos filósofos do tempo que faziam depender a sua explicação da Natureza de uma cosmogonia. A complexidade do assunto obriga-me, aliás, a não enunciar mais que vagas referências impressionistas. Caso contrário, transformaria o que se pretendia um pequeno apontamento num longo ensaio e este não é o lugar, nem a ocasião para tais desenvolvimentos.
A filosofia e ciência gregas antigas foram, maioritariamente, geocêntricas e finitistas. Embora tivesse havido um notável esforço de muitos autores para a homogeneização da Natureza, a balança acabou por pender para uma concepção diferenciadora da física relativamente à astronomia. Isto aconteceu mesmo com Platão, apesar das suas influências pitagóricas (mas, por outro lado, também por causa delas), ao conceber a astronomia como uma matemática, mais próxima do mundo das ideias que a nossa impura, corrompida e triste Terra.
Quanto ao infinito, muito embora tenham existido rupturas com a concepção maioritária, a filosofia grega sempre teve dificuldade em sequer concebê-lo, não só a nível cosmológico, mas também a nível matemático, quer a nível da compreensão dos números, quer a nível da divisibilidade das áreas. A este propósito, é conhecida a polémica que dividiu os pitagóricos quanto à existência de números irracionais. Estes mesmos pitagóricos, apesar de conceberem a realidade física como matemática, só parecem admitir o ilimitado como componente dos seres finitos a partir de uma cosmogonia em que o ilimitado correspondia ao vazio original, o que se pode considerar como uma versão racionalizada do caos original dos mitos gregos. Porventura, o ápeiron de Anaximandro não será muito diverso, apesar da sua divinização pelo autor, embora seja discutível até que inclua, no seu conceito, o conceito de infinito.
O heliocentrismo, em contraposição ao geocentrismo dominante, teve em Aristarco de Samos (310-230 a.C.) o seu grande defensor da Antiguidade. Contrariamente ao que se poderia supor, não se tratava de um filósofo especulativo, mas, sim, de um astrónomo com os métodos de observação mais exactos de toda a Antiguidade. É possível, porém, que tivesse sido influenciado por teorias mais especulativas de origem pitagórico-platónica. Aliás, os pitagóricos não parecem ter defendido jamais o geocentrismo. Já na primeira fase do pitagorismo, defendiam uma espécie de “pirocentrismo”, em que o centro era ocupado pelo fogo, orbitado pela Terra, a Anti-Terra (imaginada, claro) e os outros planetas, incluindo o Sol. Estes mesmos pitagóricos atribuíram a noite e o dia à rotação da Terra e não à translação do Sol. É incerto, porém, que algum pitagórico ou platónico de inspiração pitagórica tenha defendido o heliocentrismo.
O geocentrismo dominante teve a sua realização máxima na física e cosmologia aristotélica. Será, ainda, contra esta física e cosmologia que se realizaria a revolução astronómica do sécs. XVI-XVII e a revolução física do séc. XVII. A física aristotélica nasce de uma confiança quase ilimitada na experiência sensível. Os elementos da física antiga (ar, água, terra e fogo) são definidos por pares de contrários de características tácteis (seco, húmido; quente, frio), exactamente por o sentido do tacto ser analogamente primitivo como os próprios elementos. Ora, todas as coisas que existem na Terra eram, de acordo com Aristóteles, constituídas, materialmente, de diferentes composições destes quatro elementos. A sua natureza impura e corruptível permitia a mistura de elementos que, naturalmente, tenderiam a fixar-se em quatro esferas distintas, sendo a primeira, a da terra, a segunda, a da água, a terceira, a do ar, e a quarta, a do fogo, razão porque, no mundo terrestre, as coisas sólidas tendiam sempre para baixo e as chamas sempre para cima. Porém, nos céus, não era observável qualquer mistura ou composição, os corpos celestes eram sempre idênticos, descrevendo órbitas mais ou menos regulares em torno da Terra, não registando quaisquer mudanças na sua natureza. Daí, Aristóteles ter concluído que os céus eram constituídos por um único elemento não misturável com os quatro elementos infra-lunares, um elemento puro e incorruptível, o éter.
Por não admitir a possibilidade da existência do vazio, julgou que os astros estariam incrustados em esferas translúcidas ou cristalinas de éter que se encaixavam dentro umas das outras. A própria física do movimento era distinta para os céus e para a Terra: ao passo que, na Terra, existiriam dois movimentos naturais, para cima (o fogo) e para baixo (a terra), tendendo os outros elementos mais para um lado ou para o outro, nos céus, apenas existiria um movimento natural, o circular, o único que era concebível como eterno, adequado às coisas eternas, materialmente constituídas de éter. Porém, visto se verificarem movimentos diversos e até contraditórios entre os astros, Aristóteles teve que supor não só agentes motores próprios de cada uma das esferas (que viriam a ser convertidos em anjos na adaptação ao cristianismo), como a existência de esferas intermédias (e totalmente invisíveis) que explicassem toda a mecânica do Universo. Ao todo, o Universo seria constituído de 59 esferas, 55 das quais de éter, sendo na sua totalidade impelido para o movimento pelo último céu, o céu das estrelas, ele próprio impelido pelo primeiro motor, Deus, embora não mecanicamente, antes como causa final, por o último céu tentar imitar com o seu movimento circular perfeito, a perfeição absoluta da imutabilidade divina.
Quando Cláudio Ptolomeu (+/-90-+/-168 d. C.), já na sequência de Hiparco, propôs o seu sistema de cálculo astronómico, já se haviam verificado muitas incompatibilidades empíricas no sistema geocêntrico aristotélico. Aliás, a proposta heliocêntrica de Aristarco poderia já resultar da verificação de tais incompatibilidades: infelizmente não resistia nem à mentalidade comum da época, nem a algumas objecções empíricas, como a do facto de não se registar qualquer diferença no brilho e direcção das estrelas ao longo do ano – o que não é de admirar, visto só com os instrumentos científicos do sec. XIX se ter detectado, pela primeira vez, a paralaxe das estrelas mais próximas. O sistema de Ptolomeu é uma engenhosa forma de cálculo que tenta conservar, a qualquer custo, os pressupostos fundamentais da astronomia aristotélica: redução de todos os movimentos celestes a movimentos circulares, geocentrismo e, naturalmente, finitude. Logo à partida, porém, para explicar a diferença de brilho e magnitude nos planetas e no Sol, teve que admitir que a Terra não era bem o centro do Universo, ficando o “verdadeiro” centro um pouco ao lado. Além disso, para explicar os movimentos retrógrados dos planetas, teve que introduzir os epiciclos, movimentos circulares em torno de um centro situado na órbita primária. Finalmente, para explicar porque se moviam os planetas, por vezes, mais depressa que noutras vezes, teve a necessidade de introduzir, periodicamente, um equanto que, durante esse período, se tornava o “verdadeiro” centro da órbita, um pouco mais próximo do astro, tendo este que descrever, assim, um círculo menor. Estas complicações ad hoc salvaram durante muito tempo o sistema geocêntrico, permitindo o cálculo dos movimentos astronómicos, mas fizeram-no de forma assaz artificiosa, sendo difícil compreender como é que epiciclos e equantos se encaixavam nas esferas de éter e na suposta uniformidade e perfeição do seu movimento. De facto, as já artificiosas 55 esferas de Aristóteles transformavam-se em mais de 80 movimentos simultâneos, só para explicar o movimento de sete astros.
Só mesmo a história pode explicar a manutenção deste sistema por tanto tempo. A Europa afundou-se na barbárie da Alta Idade Média e a cultura clássica quase se perdeu. Coube ao Islão cultivá-la e trazê-la de novo para a Europa Ocidental através da Espanha muçulmana. Redescoberto nos sécs XII e XIII no Ocidente (só se conheciam, antes disso, dois livros de lógica de importância menor), Aristóteles provoca uma revolução intelectual na Cristandade que acabou com a sua adopção como referência dogmática para o estudo da Natureza, após as necessárias adaptações de Tomás de Aquino (e.g., negação da eternidade do mundo defendida por Aristóteles). Porém, se Aristóteles é o grande responsável pelo Renascimento do Sec. XIII (que continua pela 1ª metade do XIV), será um dos grandes entraves do Renascimento dos sécs. XV-XVI, culminando com os episódios dramáticos da morte cruel de Giordano Bruno em 1600 e do julgamento de Galileu Galilei em 1633.
É preciso, porém, não confundir o Renascimento dos sécs, XV e XVI com a ciência mecanicista que emerge no sec. XVII. É verdade que existe uma redescoberta do interesse pela Natureza no Renascimento (já antecipado por uma figura do séc. XIII e por algumas outras do século XIV), mas tal redescoberta tem um cunho mágico, alquímico, estético e místico, em vez de matemático e mecânico como acontecerá com a ciência moderna. Como vimos nas aulas, o próprio geocentrismo vai se alterando, fundindo-se com concepções alquímicas e místicas, em parte já provenientes da Idade Média, primeiro inserindo as esferas dos anjos para lá da esfera das estrelas, recuperando a música das esferas pitagórica, introduzindo uma esfera última da mente para observar o mundo platónico das ideias, etc. Aliás, o Renascimento é também a redescoberta das concepções pitagóricas e platónicas, embora explorando os seus aspectos mais esotéricos e místicos, contrariamente ao que acontecerá no sec. XVII, e essas influências não são irrelevantes para compreender as revoluções que irão ocorrer. Uma única figura desta época surge como uma ponte de ligação entre as concepções renascentistas e as mecanicistas: Leonardo da Vinci (1452-1519).
Porém, ainda antes de Leonardo, uma outra figura, muitas vezes esquecida, pesa na nossa história de forma incontornável: Nicolau de Cusa (1401-1464). A partir de considerações de ordem metafísica sob influência platónica (como sempre acontecerá), Nicolau afirma de forma mais clara que qualquer autor da Antiguidade, a infinitude do mundo, abolindo por completo a heterogeneidade da física aristotélica e admitindo, visto não existir razões para não supor geração e corrupção nos outros astros, a existência de seres vivos noutros planetas. Afirma, igualmente, embora de forma não muito clara, o movimento da Terra, não perfeitamente circular, tal como a sua forma esférica (e, em ambos os casos, com razão). Naturalmente, nem tudo foram antecipações das teses futuras, havendo até casos de retrocesso, como na atribuição de luz natural à Terra e à Lua. Em certos aspectos, a sua física, desenvolvendo a física occamista do séc. XIV, antecipará a de Leonardo que, recebendo igualmente a influência da redescoberta de Arquimedes, estará na origem directa da ciência galilaica.
Contrariamente ao que é afirmado pelo manual, não foi o aumento da precisão das observações astronómicas que levou ao sistema copernicano. Já depois das descobertas copernicanas, embora não da sua publicação, o nosso Pedro Nunes terá inventado o instrumento mais rigoroso da época (o nónio) e, mesmo depois de conhecer a teoria copernicana, manteve-se sempre um defensor do geocentrismo. Se se tratasse de uma mera questão empírica, os observadores com os instrumentos mais rigorosos da época deveriam ter dado o aval ao novo sistema e isso não aconteceu. Nicolau Copérnico (1473-1543) inscreve-se, inequivocamente, no Renascimento místico, pitagórico e platónico, com toda uma série de ressonâncias alquímicas, cabalísticas e esotéricas, que o motiva para a descoberta de um modelo matemático, adequado ao ideal clássico da simplicidade, onde o Sol assume o papel de símbolo físico ou até manifestação directa do divino. Embora também razões de ordem metafísica, a fazer lembrar os pitagóricos, tenham presidido à sua escolha do Sol, o facto decisivo terá sido a redução dos mais de 80 movimentos ptolomaicos para apenas 34. A maior simplicidade do modelo terá convencido, em primeiro lugar, o próprio Copérnico, em segundo lugar, de forma apenas utilitária, as próprias autoridades eclesiásticas para a elaboração dos seus calendários, porventura também os empreendimentos de navegação e, por fim, a elite intelectual da época.
O cosmos de Copérnico está, porém, mais próximo de Ptolomeu e Aristóteles, do que do nosso. Insiste e até aperfeiçoa a tese do movimento circular como único movimento natural dos céus. Embora elimine os equantos, mantém a excentricidade e os epiciclos. É verdade que, na sequência de Cusa, ao explicar a gravidade como um fenómeno local resultante da tendência da matéria a formar massas esféricas, reduziu, significativamente, a heterogeneidade da física. Porém, insiste, ao contrário daquele, na finitude do mundo. É verdade que, para explicar a ausência da paralaxe das estrelas, as distancia de forma imensa e extraordinária da nossa órbita. Mas o mundo continua fechado. Por fim, inventa um movimento inexistente para a Terra e continua a manter uma margem de erro que deixou em aberto problemas a resolver pela investigação astronómica que levariam à solução final relativa ao sistema solar em menos de um século.
Entre muitos outros modelos surgidos na época, o seguinte passo mais decisivo foi dado por Tycho Brahe (1546-1601), astrónomo dinamarquês, cujos registos astronómicos são os mais detalhados do período anterior à invenção do telescópio. Este investigador é, usualmente, esquecido de forma injusta, devido ao facto de restabelecer o sistema geocêntrico. De facto, ao chamar a atenção para as inexactidões copernicanas, ao romper, definitivamente, com qualquer possibilidade de conceber o universo como um conjunto de esferas cristalinas, visto só o sol, a lua e as estrelas orbitarem à volta da Terra, orbitando os restantes astros em torno do sol, ao aumentar a precisão do cálculo dos movimentos astronómicos e, finalmente, ao fornecer, nas vésperas da morte, os seus registos a Kepler, Brahe foi um elo fundamental para a fundação da astronomia moderna e, com ela, da ciência moderna.
Juntamente com a influência de Brahe, não é de negligenciar o desenvolvimento dos estudos empíricos das órbitas dos cometas que levaram a que definitivamente se enterrasse a hipótese peripatética de eles serem fenómenos meteorológicos, assim como a muito renascentista, ainda, formação mística pitagórico-platónica, na origem da solução kepleriana final dos movimentos celestes. O astrónomo alemão Johannes Kepler (1571-1630) foi, durante a sua vida, conhecido das cortes europeias como grande astrólogo, muito embora a sua verdadeira astrologia (não tanto a dos conselhos fornecidos ao imperador) fosse uma cosmologia mística. Para lá de muitos outros contributos, como a observação da supernova de 1604 que contribuiu para a refutação da imutabilidade celeste defendida por Aristóteles (ainda por cima, logo no céu mais próximo de Deus), Kepler, após longos anos de ensaio e erro, preso ao pressuposto metafísico do movimento circular, tentando compatibilizar os modelos teóricos com os movimentos celestes (sobretudo o de Marte), descobriu, enfim, as leis que o iriam imortalizar: em primeiro lugar, substituiu o movimento circular pelo elíptico, com o Sol num dos focos da elipse; em segundo lugar, descreveu matematicamente as diferenças de velocidade dos planetas como resultantes da sua ligação ao Sol, visto o raio de ligação do planeta ao Sol percorrer, em tempos iguais, áreas iguais; finalmente, como corolário das suas especulações pitagórico-platónicas, estabeleceu a lei que estabelece uma correlação entre a distância de cada planeta relativamente ao Sol e o período de revolução de cada um deles, permitindo que se concebessem, pela primeira vez, as órbitas planetárias como pertencentes a um sistema matemático, expressável numa lei única, o sistema solar. Porém, a estas leis descritivas faltava um elemento fundamental: a causa – e esta só seria estabelecida, após os contributos de Galileu e Descartes, por Isaac Newton.
Entretanto, outro problema cosmológico fundamental se ia desenvolvendo: o problema da finitude ou infinitude do Universo. Embora Kepler haja dado um contributo fundamental para abrir o mundo fechado de Aristóteles, a verdade é que, como todos os investigadores mais inclinados para os critérios empíricos, tinha muita dificuldade em lidar com a hipótese da infinitude. Frente às teses de Bruno ou Gilbert (apesar da influência do magnetismo deste último sobre ele), ele declara: “Este pensamento transporta consigo não sei que horror secreto: com efeito, encontramo-nos errando nesta imensidão à qual foram negados qualquer limite, qualquer centro e, por isso mesmo, qualquer lugar determinado.” Também Galileu Galilei (1564-1642), apesar dos contributos empíricos das observações telescópicas para a refutação da heterogeneidade do cosmos (manchas solares, satélites de Júpiter), preso como está ao movimento circular do modelo copernicano, não extrai consequências da sua lei da queda dos graves (não chega à lei da inércia – sigo aqui Koyré)) e mantém uma atitude de suspensão de juízo relativamente ao problema da finitude do universo. Quanto a Giordano Bruno (1545-1600), apesar do esforço posto na publicitação das teses infinitistas que lhe valeram, por fim, a fogueira, a sua metafísica desvairada mais não fez do que afirmar de forma inequívoca o infinitismo de Cusa, introduzindo nele a novidade do copernicanismo.
Foi, porém, a dois grandes matemáticos e metafísicos que se deveu a afirmação do infinitismo no cerne da nova concepção matemática do universo da física moderna: René Descartes (1596-1650) e Gottfried Leibniz (1646-1716). Embora as suas concepções sejam muito diversas (mecanicista a primeira, dinamista a segunda), ambos, ao conceberem, a priori, a realidade física (embora a extensão seja fenoménica para Leibniz) como uma realidade matemática, transferem para aquela as propriedades desta. Por outro lado, a inteira matematização do Universo por parte de Descartes, permitiu-lhe afirmar, sem hesitação, a lei da inércia como fundamento da sua mecânica, ao contrário de Galileu, estranhamente preso ao pressuposto aristotélico do movimento natural dos céus (circular) e aos critérios empíricos de que partia. Em vários livros e manuais com reduzido conhecimento histórico, atribui-se a descoberta da lei da inércia a Newton, ignorando o facto de Descartes chamar primeira lei da natureza à lei que afirma que cada coisa se mantém no estado em que está enquanto nada o mudar (Princípios, II,37). A esta, mais adiante, se acrescenta a segunda: que todos os corpos que se movem, tendem a continuar o seu movimento em linha recta (Princípios, II,39) - sendo que, nas explicações dadas logo na primeira lei, se percebe que também não há razões para a velocidade se alterar.
É a Isaac Newton (1642-1727) que coube o mérito de resolver, definitivamente, a segunda questão cosmológica, unindo os contributos das leis do movimento celeste (Kepler), da lei da queda dos graves (Galileu) e da lei da inércia (Descartes, conforme foi demonstrado por Koyré), na lei da gravitação universal. Ao estabelecer tal lei para quaisquer duas partículas do Universo, Newton encerra, de vez, a possibilidade de distinguir uma física da Terra de uma física dos céus.
Concluindo, se Kepler encerrou, do ponto de vista da evolução histórica, a polémica entre geocentrismo e heliocentrismo, a favor do heliocentrismo (na medida em que superou a última tentativa, com valor científico, de geocentrismo, a de Brahe), se os infinitistas e até mesmo os que suspenderam o juízo acerca desta questão (como Galileu e Newton), mas que admitiam um universo imenso, foram superando o próprio problema do centro, foi com Newton que se resolveu o problema da heterogeneidade ou homogeneidade do universo e da física a favor da última. Já o problema da finitude ou infinitude do universo que, muitas vezes, se julgou estar resolvido a favor deste último, é ainda hoje um problema em discussão.
A chamada (inicialmente por sarcasmo) teoria do big-bang volta a defender um universo finito quer no tempo, quer no espaço (pois se está em expansão, por muito que se tenha expandido, é finito). Implícita na teoria, incapaz de explicar a causa primeira de forma física, parece-me estar presente uma ressurreição do criacionismo. Por outro lado, muito embora a teoria seja de natureza bastante especulativa (visto alguns dos passos fundamentais estarem por explicar), tal como no passado, os seus pressupostos são empíricos, partindo do nosso ponto de vista relativamente ao Universo observável (supondo que o Universo que se observa em expansão é todo o Universo), da radiação de fundo do céu e de dados da física das partículas. Outras teorias mantêm a discussão, partindo de motivações mais metafísicas que não suportam a concepção intelectual supostamente irracional de um universo limitado, quer defendendo a infinitude temporal, corolário da teoria do big-crunch que levaria a uma espécie de eterno retorno de expansões e contracções, quer defendendo o modelo de explosões localizadas de Fred Hoyle (1915-2001) – correcção de 93 do seu modelo estático anteriormente refutado, modelo que não admite origem temporal e onde não se encontra razão para a limitação espacial. Embora, actualmente, a teoria expansionista pareça vitoriosa, a história da ciência há muito que nos deveria ter ensinado a não tirar conclusões precipitadas e a manter a mente aberta à discussão.
A história a que me vou referir, em traços muito vagos e genéricos, é também a história de como os homens ficaram órfãos dos deuses e de como, ainda hoje, tentam recuperar os seus pais e, com eles, o sentido para a sua existência através da explicação de de onde vimos, para onde vamos e onde, simplesmente, estamos.
Não é de estranhar que, quando o homem rompeu com as explicações fantásticas da realidade (não só na Grécia, mas, como vimos no ano transacto, noutros locais), tendesse a reproduzir os traços gerais das explicações míticas: um mundo finito, originado num tempo longínquo (muito embora a explicação fosse, agora, racional, quer através de forças naturais, quer por acção de um Deus Universal, quer por acção de princípios místicos abstractos), com centro na Terra e uma concepção mais ou menos transcendente dos céus. Sendo estas as características da cosmologia primitiva, é também fácil enunciar quais os problemas que se desenvolverão ao longo da história da cosmologia: 1º O centro do mundo: se o centro do mundo será a Terra (geocentrismo) ou o Sol (heliocentrismo) – e, no final, se sequer tem centro; 2º A contraposição entre heterogeneidade ou homogeneidade do mundo: se a física celeste é a mesma ou diferente (normalmente, transcendente) da da Terra; 3º Se existimos num mundo fechado ou num Universo infinito, quer no espaço, quer no tempo.
Não são apenas as necessidades psíquicas que explicam a concepção primitiva do cosmos. Qualquer pensamento baseado na experiência sensível, na observação empírica, tende para ele. Vemos o Sol rodar à volta da Terra, não vemos nos céus a variedade, a mistura, a corrupção e a morte que vemos na Terra, vendo, ao contrário, uma regularidade matemática que não encontramos em nenhuma coisa terrestre, e, finalmente, não podemos ter qualquer experiência do infinito. Esta última questão será, aliás, a última fronteira entre os espíritos empíricos e os espíritos especulativos, porque, se a concepção geocêntrica terá que se confrontar com cada vez maiores dificuldades empíricas e a defesa da heterogeneidade do mundo acabará por colidir com melhores observações (telescópio de Galileu), a finitude do mundo, quer temporal, quer espacial, não poderá nunca ser desmentida por qualquer experiência imaginável, pois só existe experiência do finito, só sendo questionável por concepções metafísicas e/ou matemáticas.
Na Grécia Antiga, embora a tripla tendência já referida se afirmasse maioritariamente, a dupla tensão da racionalidade, empírica, por um lado, especulativa, por outro, levou a que surgisse todo o tipo de respostas às questões centrais da cosmologia, embora não de uma forma uniforme, onde fosse possível identificar, facilmente, as concepções progressistas e as concepções retrógradas. Por exemplo, Anaxágoras de Clazómenas (assim como os atomistas), filósofo do sec. V a. C. (500-427), parece ser um dos progressistas, visto parecer defender uma infinidade de mundos e a homogeneidade do universo. Porém, não só coloca a Terra no centro do nosso mundo particular (ou sistema), como a concebe plana, a flutuar no ar. Ao contrário, Aristóteles (384-322 a.C.), que parece personificar os conservadores, não só concede a forma esférica à Terra, como concebe o mundo como eterno, contrariamente a Anaxágoras e à maioria dos filósofos do tempo que faziam depender a sua explicação da Natureza de uma cosmogonia. A complexidade do assunto obriga-me, aliás, a não enunciar mais que vagas referências impressionistas. Caso contrário, transformaria o que se pretendia um pequeno apontamento num longo ensaio e este não é o lugar, nem a ocasião para tais desenvolvimentos.
A filosofia e ciência gregas antigas foram, maioritariamente, geocêntricas e finitistas. Embora tivesse havido um notável esforço de muitos autores para a homogeneização da Natureza, a balança acabou por pender para uma concepção diferenciadora da física relativamente à astronomia. Isto aconteceu mesmo com Platão, apesar das suas influências pitagóricas (mas, por outro lado, também por causa delas), ao conceber a astronomia como uma matemática, mais próxima do mundo das ideias que a nossa impura, corrompida e triste Terra.
Quanto ao infinito, muito embora tenham existido rupturas com a concepção maioritária, a filosofia grega sempre teve dificuldade em sequer concebê-lo, não só a nível cosmológico, mas também a nível matemático, quer a nível da compreensão dos números, quer a nível da divisibilidade das áreas. A este propósito, é conhecida a polémica que dividiu os pitagóricos quanto à existência de números irracionais. Estes mesmos pitagóricos, apesar de conceberem a realidade física como matemática, só parecem admitir o ilimitado como componente dos seres finitos a partir de uma cosmogonia em que o ilimitado correspondia ao vazio original, o que se pode considerar como uma versão racionalizada do caos original dos mitos gregos. Porventura, o ápeiron de Anaximandro não será muito diverso, apesar da sua divinização pelo autor, embora seja discutível até que inclua, no seu conceito, o conceito de infinito.
O heliocentrismo, em contraposição ao geocentrismo dominante, teve em Aristarco de Samos (310-230 a.C.) o seu grande defensor da Antiguidade. Contrariamente ao que se poderia supor, não se tratava de um filósofo especulativo, mas, sim, de um astrónomo com os métodos de observação mais exactos de toda a Antiguidade. É possível, porém, que tivesse sido influenciado por teorias mais especulativas de origem pitagórico-platónica. Aliás, os pitagóricos não parecem ter defendido jamais o geocentrismo. Já na primeira fase do pitagorismo, defendiam uma espécie de “pirocentrismo”, em que o centro era ocupado pelo fogo, orbitado pela Terra, a Anti-Terra (imaginada, claro) e os outros planetas, incluindo o Sol. Estes mesmos pitagóricos atribuíram a noite e o dia à rotação da Terra e não à translação do Sol. É incerto, porém, que algum pitagórico ou platónico de inspiração pitagórica tenha defendido o heliocentrismo.
O geocentrismo dominante teve a sua realização máxima na física e cosmologia aristotélica. Será, ainda, contra esta física e cosmologia que se realizaria a revolução astronómica do sécs. XVI-XVII e a revolução física do séc. XVII. A física aristotélica nasce de uma confiança quase ilimitada na experiência sensível. Os elementos da física antiga (ar, água, terra e fogo) são definidos por pares de contrários de características tácteis (seco, húmido; quente, frio), exactamente por o sentido do tacto ser analogamente primitivo como os próprios elementos. Ora, todas as coisas que existem na Terra eram, de acordo com Aristóteles, constituídas, materialmente, de diferentes composições destes quatro elementos. A sua natureza impura e corruptível permitia a mistura de elementos que, naturalmente, tenderiam a fixar-se em quatro esferas distintas, sendo a primeira, a da terra, a segunda, a da água, a terceira, a do ar, e a quarta, a do fogo, razão porque, no mundo terrestre, as coisas sólidas tendiam sempre para baixo e as chamas sempre para cima. Porém, nos céus, não era observável qualquer mistura ou composição, os corpos celestes eram sempre idênticos, descrevendo órbitas mais ou menos regulares em torno da Terra, não registando quaisquer mudanças na sua natureza. Daí, Aristóteles ter concluído que os céus eram constituídos por um único elemento não misturável com os quatro elementos infra-lunares, um elemento puro e incorruptível, o éter.
Por não admitir a possibilidade da existência do vazio, julgou que os astros estariam incrustados em esferas translúcidas ou cristalinas de éter que se encaixavam dentro umas das outras. A própria física do movimento era distinta para os céus e para a Terra: ao passo que, na Terra, existiriam dois movimentos naturais, para cima (o fogo) e para baixo (a terra), tendendo os outros elementos mais para um lado ou para o outro, nos céus, apenas existiria um movimento natural, o circular, o único que era concebível como eterno, adequado às coisas eternas, materialmente constituídas de éter. Porém, visto se verificarem movimentos diversos e até contraditórios entre os astros, Aristóteles teve que supor não só agentes motores próprios de cada uma das esferas (que viriam a ser convertidos em anjos na adaptação ao cristianismo), como a existência de esferas intermédias (e totalmente invisíveis) que explicassem toda a mecânica do Universo. Ao todo, o Universo seria constituído de 59 esferas, 55 das quais de éter, sendo na sua totalidade impelido para o movimento pelo último céu, o céu das estrelas, ele próprio impelido pelo primeiro motor, Deus, embora não mecanicamente, antes como causa final, por o último céu tentar imitar com o seu movimento circular perfeito, a perfeição absoluta da imutabilidade divina.
Quando Cláudio Ptolomeu (+/-90-+/-168 d. C.), já na sequência de Hiparco, propôs o seu sistema de cálculo astronómico, já se haviam verificado muitas incompatibilidades empíricas no sistema geocêntrico aristotélico. Aliás, a proposta heliocêntrica de Aristarco poderia já resultar da verificação de tais incompatibilidades: infelizmente não resistia nem à mentalidade comum da época, nem a algumas objecções empíricas, como a do facto de não se registar qualquer diferença no brilho e direcção das estrelas ao longo do ano – o que não é de admirar, visto só com os instrumentos científicos do sec. XIX se ter detectado, pela primeira vez, a paralaxe das estrelas mais próximas. O sistema de Ptolomeu é uma engenhosa forma de cálculo que tenta conservar, a qualquer custo, os pressupostos fundamentais da astronomia aristotélica: redução de todos os movimentos celestes a movimentos circulares, geocentrismo e, naturalmente, finitude. Logo à partida, porém, para explicar a diferença de brilho e magnitude nos planetas e no Sol, teve que admitir que a Terra não era bem o centro do Universo, ficando o “verdadeiro” centro um pouco ao lado. Além disso, para explicar os movimentos retrógrados dos planetas, teve que introduzir os epiciclos, movimentos circulares em torno de um centro situado na órbita primária. Finalmente, para explicar porque se moviam os planetas, por vezes, mais depressa que noutras vezes, teve a necessidade de introduzir, periodicamente, um equanto que, durante esse período, se tornava o “verdadeiro” centro da órbita, um pouco mais próximo do astro, tendo este que descrever, assim, um círculo menor. Estas complicações ad hoc salvaram durante muito tempo o sistema geocêntrico, permitindo o cálculo dos movimentos astronómicos, mas fizeram-no de forma assaz artificiosa, sendo difícil compreender como é que epiciclos e equantos se encaixavam nas esferas de éter e na suposta uniformidade e perfeição do seu movimento. De facto, as já artificiosas 55 esferas de Aristóteles transformavam-se em mais de 80 movimentos simultâneos, só para explicar o movimento de sete astros.
Só mesmo a história pode explicar a manutenção deste sistema por tanto tempo. A Europa afundou-se na barbárie da Alta Idade Média e a cultura clássica quase se perdeu. Coube ao Islão cultivá-la e trazê-la de novo para a Europa Ocidental através da Espanha muçulmana. Redescoberto nos sécs XII e XIII no Ocidente (só se conheciam, antes disso, dois livros de lógica de importância menor), Aristóteles provoca uma revolução intelectual na Cristandade que acabou com a sua adopção como referência dogmática para o estudo da Natureza, após as necessárias adaptações de Tomás de Aquino (e.g., negação da eternidade do mundo defendida por Aristóteles). Porém, se Aristóteles é o grande responsável pelo Renascimento do Sec. XIII (que continua pela 1ª metade do XIV), será um dos grandes entraves do Renascimento dos sécs. XV-XVI, culminando com os episódios dramáticos da morte cruel de Giordano Bruno em 1600 e do julgamento de Galileu Galilei em 1633.
É preciso, porém, não confundir o Renascimento dos sécs, XV e XVI com a ciência mecanicista que emerge no sec. XVII. É verdade que existe uma redescoberta do interesse pela Natureza no Renascimento (já antecipado por uma figura do séc. XIII e por algumas outras do século XIV), mas tal redescoberta tem um cunho mágico, alquímico, estético e místico, em vez de matemático e mecânico como acontecerá com a ciência moderna. Como vimos nas aulas, o próprio geocentrismo vai se alterando, fundindo-se com concepções alquímicas e místicas, em parte já provenientes da Idade Média, primeiro inserindo as esferas dos anjos para lá da esfera das estrelas, recuperando a música das esferas pitagórica, introduzindo uma esfera última da mente para observar o mundo platónico das ideias, etc. Aliás, o Renascimento é também a redescoberta das concepções pitagóricas e platónicas, embora explorando os seus aspectos mais esotéricos e místicos, contrariamente ao que acontecerá no sec. XVII, e essas influências não são irrelevantes para compreender as revoluções que irão ocorrer. Uma única figura desta época surge como uma ponte de ligação entre as concepções renascentistas e as mecanicistas: Leonardo da Vinci (1452-1519).
Porém, ainda antes de Leonardo, uma outra figura, muitas vezes esquecida, pesa na nossa história de forma incontornável: Nicolau de Cusa (1401-1464). A partir de considerações de ordem metafísica sob influência platónica (como sempre acontecerá), Nicolau afirma de forma mais clara que qualquer autor da Antiguidade, a infinitude do mundo, abolindo por completo a heterogeneidade da física aristotélica e admitindo, visto não existir razões para não supor geração e corrupção nos outros astros, a existência de seres vivos noutros planetas. Afirma, igualmente, embora de forma não muito clara, o movimento da Terra, não perfeitamente circular, tal como a sua forma esférica (e, em ambos os casos, com razão). Naturalmente, nem tudo foram antecipações das teses futuras, havendo até casos de retrocesso, como na atribuição de luz natural à Terra e à Lua. Em certos aspectos, a sua física, desenvolvendo a física occamista do séc. XIV, antecipará a de Leonardo que, recebendo igualmente a influência da redescoberta de Arquimedes, estará na origem directa da ciência galilaica.
Contrariamente ao que é afirmado pelo manual, não foi o aumento da precisão das observações astronómicas que levou ao sistema copernicano. Já depois das descobertas copernicanas, embora não da sua publicação, o nosso Pedro Nunes terá inventado o instrumento mais rigoroso da época (o nónio) e, mesmo depois de conhecer a teoria copernicana, manteve-se sempre um defensor do geocentrismo. Se se tratasse de uma mera questão empírica, os observadores com os instrumentos mais rigorosos da época deveriam ter dado o aval ao novo sistema e isso não aconteceu. Nicolau Copérnico (1473-1543) inscreve-se, inequivocamente, no Renascimento místico, pitagórico e platónico, com toda uma série de ressonâncias alquímicas, cabalísticas e esotéricas, que o motiva para a descoberta de um modelo matemático, adequado ao ideal clássico da simplicidade, onde o Sol assume o papel de símbolo físico ou até manifestação directa do divino. Embora também razões de ordem metafísica, a fazer lembrar os pitagóricos, tenham presidido à sua escolha do Sol, o facto decisivo terá sido a redução dos mais de 80 movimentos ptolomaicos para apenas 34. A maior simplicidade do modelo terá convencido, em primeiro lugar, o próprio Copérnico, em segundo lugar, de forma apenas utilitária, as próprias autoridades eclesiásticas para a elaboração dos seus calendários, porventura também os empreendimentos de navegação e, por fim, a elite intelectual da época.
O cosmos de Copérnico está, porém, mais próximo de Ptolomeu e Aristóteles, do que do nosso. Insiste e até aperfeiçoa a tese do movimento circular como único movimento natural dos céus. Embora elimine os equantos, mantém a excentricidade e os epiciclos. É verdade que, na sequência de Cusa, ao explicar a gravidade como um fenómeno local resultante da tendência da matéria a formar massas esféricas, reduziu, significativamente, a heterogeneidade da física. Porém, insiste, ao contrário daquele, na finitude do mundo. É verdade que, para explicar a ausência da paralaxe das estrelas, as distancia de forma imensa e extraordinária da nossa órbita. Mas o mundo continua fechado. Por fim, inventa um movimento inexistente para a Terra e continua a manter uma margem de erro que deixou em aberto problemas a resolver pela investigação astronómica que levariam à solução final relativa ao sistema solar em menos de um século.
Entre muitos outros modelos surgidos na época, o seguinte passo mais decisivo foi dado por Tycho Brahe (1546-1601), astrónomo dinamarquês, cujos registos astronómicos são os mais detalhados do período anterior à invenção do telescópio. Este investigador é, usualmente, esquecido de forma injusta, devido ao facto de restabelecer o sistema geocêntrico. De facto, ao chamar a atenção para as inexactidões copernicanas, ao romper, definitivamente, com qualquer possibilidade de conceber o universo como um conjunto de esferas cristalinas, visto só o sol, a lua e as estrelas orbitarem à volta da Terra, orbitando os restantes astros em torno do sol, ao aumentar a precisão do cálculo dos movimentos astronómicos e, finalmente, ao fornecer, nas vésperas da morte, os seus registos a Kepler, Brahe foi um elo fundamental para a fundação da astronomia moderna e, com ela, da ciência moderna.
Juntamente com a influência de Brahe, não é de negligenciar o desenvolvimento dos estudos empíricos das órbitas dos cometas que levaram a que definitivamente se enterrasse a hipótese peripatética de eles serem fenómenos meteorológicos, assim como a muito renascentista, ainda, formação mística pitagórico-platónica, na origem da solução kepleriana final dos movimentos celestes. O astrónomo alemão Johannes Kepler (1571-1630) foi, durante a sua vida, conhecido das cortes europeias como grande astrólogo, muito embora a sua verdadeira astrologia (não tanto a dos conselhos fornecidos ao imperador) fosse uma cosmologia mística. Para lá de muitos outros contributos, como a observação da supernova de 1604 que contribuiu para a refutação da imutabilidade celeste defendida por Aristóteles (ainda por cima, logo no céu mais próximo de Deus), Kepler, após longos anos de ensaio e erro, preso ao pressuposto metafísico do movimento circular, tentando compatibilizar os modelos teóricos com os movimentos celestes (sobretudo o de Marte), descobriu, enfim, as leis que o iriam imortalizar: em primeiro lugar, substituiu o movimento circular pelo elíptico, com o Sol num dos focos da elipse; em segundo lugar, descreveu matematicamente as diferenças de velocidade dos planetas como resultantes da sua ligação ao Sol, visto o raio de ligação do planeta ao Sol percorrer, em tempos iguais, áreas iguais; finalmente, como corolário das suas especulações pitagórico-platónicas, estabeleceu a lei que estabelece uma correlação entre a distância de cada planeta relativamente ao Sol e o período de revolução de cada um deles, permitindo que se concebessem, pela primeira vez, as órbitas planetárias como pertencentes a um sistema matemático, expressável numa lei única, o sistema solar. Porém, a estas leis descritivas faltava um elemento fundamental: a causa – e esta só seria estabelecida, após os contributos de Galileu e Descartes, por Isaac Newton.
Entretanto, outro problema cosmológico fundamental se ia desenvolvendo: o problema da finitude ou infinitude do Universo. Embora Kepler haja dado um contributo fundamental para abrir o mundo fechado de Aristóteles, a verdade é que, como todos os investigadores mais inclinados para os critérios empíricos, tinha muita dificuldade em lidar com a hipótese da infinitude. Frente às teses de Bruno ou Gilbert (apesar da influência do magnetismo deste último sobre ele), ele declara: “Este pensamento transporta consigo não sei que horror secreto: com efeito, encontramo-nos errando nesta imensidão à qual foram negados qualquer limite, qualquer centro e, por isso mesmo, qualquer lugar determinado.” Também Galileu Galilei (1564-1642), apesar dos contributos empíricos das observações telescópicas para a refutação da heterogeneidade do cosmos (manchas solares, satélites de Júpiter), preso como está ao movimento circular do modelo copernicano, não extrai consequências da sua lei da queda dos graves (não chega à lei da inércia – sigo aqui Koyré)) e mantém uma atitude de suspensão de juízo relativamente ao problema da finitude do universo. Quanto a Giordano Bruno (1545-1600), apesar do esforço posto na publicitação das teses infinitistas que lhe valeram, por fim, a fogueira, a sua metafísica desvairada mais não fez do que afirmar de forma inequívoca o infinitismo de Cusa, introduzindo nele a novidade do copernicanismo.
Foi, porém, a dois grandes matemáticos e metafísicos que se deveu a afirmação do infinitismo no cerne da nova concepção matemática do universo da física moderna: René Descartes (1596-1650) e Gottfried Leibniz (1646-1716). Embora as suas concepções sejam muito diversas (mecanicista a primeira, dinamista a segunda), ambos, ao conceberem, a priori, a realidade física (embora a extensão seja fenoménica para Leibniz) como uma realidade matemática, transferem para aquela as propriedades desta. Por outro lado, a inteira matematização do Universo por parte de Descartes, permitiu-lhe afirmar, sem hesitação, a lei da inércia como fundamento da sua mecânica, ao contrário de Galileu, estranhamente preso ao pressuposto aristotélico do movimento natural dos céus (circular) e aos critérios empíricos de que partia. Em vários livros e manuais com reduzido conhecimento histórico, atribui-se a descoberta da lei da inércia a Newton, ignorando o facto de Descartes chamar primeira lei da natureza à lei que afirma que cada coisa se mantém no estado em que está enquanto nada o mudar (Princípios, II,37). A esta, mais adiante, se acrescenta a segunda: que todos os corpos que se movem, tendem a continuar o seu movimento em linha recta (Princípios, II,39) - sendo que, nas explicações dadas logo na primeira lei, se percebe que também não há razões para a velocidade se alterar.
É a Isaac Newton (1642-1727) que coube o mérito de resolver, definitivamente, a segunda questão cosmológica, unindo os contributos das leis do movimento celeste (Kepler), da lei da queda dos graves (Galileu) e da lei da inércia (Descartes, conforme foi demonstrado por Koyré), na lei da gravitação universal. Ao estabelecer tal lei para quaisquer duas partículas do Universo, Newton encerra, de vez, a possibilidade de distinguir uma física da Terra de uma física dos céus.
Concluindo, se Kepler encerrou, do ponto de vista da evolução histórica, a polémica entre geocentrismo e heliocentrismo, a favor do heliocentrismo (na medida em que superou a última tentativa, com valor científico, de geocentrismo, a de Brahe), se os infinitistas e até mesmo os que suspenderam o juízo acerca desta questão (como Galileu e Newton), mas que admitiam um universo imenso, foram superando o próprio problema do centro, foi com Newton que se resolveu o problema da heterogeneidade ou homogeneidade do universo e da física a favor da última. Já o problema da finitude ou infinitude do universo que, muitas vezes, se julgou estar resolvido a favor deste último, é ainda hoje um problema em discussão.
A chamada (inicialmente por sarcasmo) teoria do big-bang volta a defender um universo finito quer no tempo, quer no espaço (pois se está em expansão, por muito que se tenha expandido, é finito). Implícita na teoria, incapaz de explicar a causa primeira de forma física, parece-me estar presente uma ressurreição do criacionismo. Por outro lado, muito embora a teoria seja de natureza bastante especulativa (visto alguns dos passos fundamentais estarem por explicar), tal como no passado, os seus pressupostos são empíricos, partindo do nosso ponto de vista relativamente ao Universo observável (supondo que o Universo que se observa em expansão é todo o Universo), da radiação de fundo do céu e de dados da física das partículas. Outras teorias mantêm a discussão, partindo de motivações mais metafísicas que não suportam a concepção intelectual supostamente irracional de um universo limitado, quer defendendo a infinitude temporal, corolário da teoria do big-crunch que levaria a uma espécie de eterno retorno de expansões e contracções, quer defendendo o modelo de explosões localizadas de Fred Hoyle (1915-2001) – correcção de 93 do seu modelo estático anteriormente refutado, modelo que não admite origem temporal e onde não se encontra razão para a limitação espacial. Embora, actualmente, a teoria expansionista pareça vitoriosa, a história da ciência há muito que nos deveria ter ensinado a não tirar conclusões precipitadas e a manter a mente aberta à discussão.