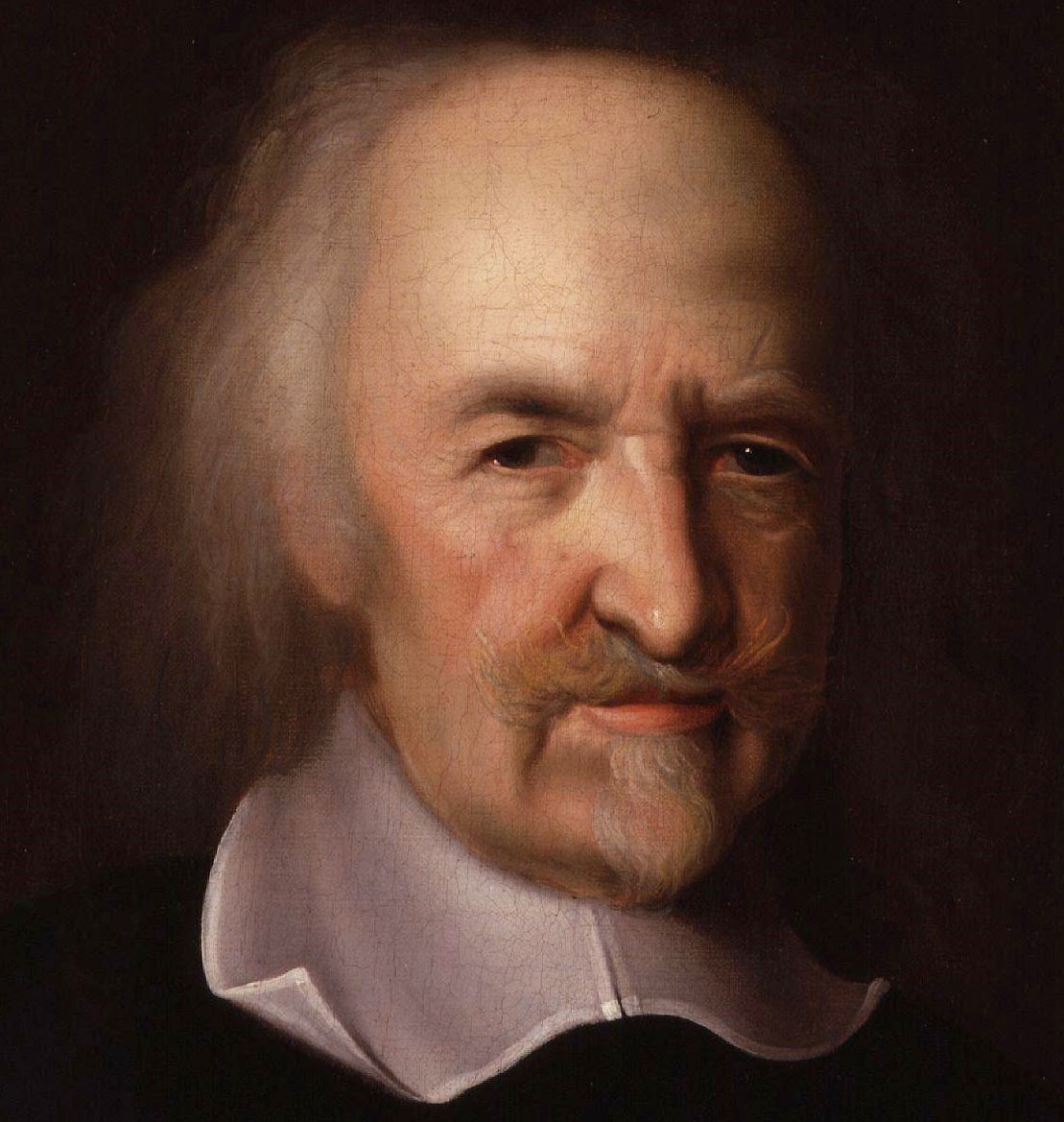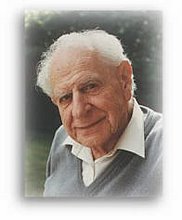Putin é um criminoso de guerra (e não só), Putin é um
autocrata e a sua república é uma fraude, é uma vergonha que alguém não condene
uma invasão de um outro país. Na verdade, nada disse de preciso sobre os
objetos em causa, mas apenas sobre a forma como me (nos) afetam. Mas, com tais
juízos de valor redundantes (só na Rússia e uns poucos países alinhados não o
seriam), talvez me seja permitido dizer algumas outras coisas.
Mantenho-me em algumas redes sociais sobretudo como uma
forma de usar os métodos umas vezes da observação participada, outras vezes da
observação naturalista. Para um conhecimento mais abrangente do comportamento
da fauna, deveria estar em todas, mas a idade já não me permite demasiados
esforços, até por isso implicar que teria de integrar, mesmo que
passageiramente, os diversos ecossistemas. Mas a pertença à fauna a que estou
habituado chega para tirar algumas conclusões. Os órgãos de comunicação social
tradicionais gostam de apresentar as redes sociais como uma selva onde não
existem garantias de uma informação séria, subordinada a rigorosos critérios
jornalísticos. Trata-se de uma estratégia que visa garantir um maior domínio
dessas redes. E lá que resulta, resulta. Pessoas supostamente cultas e com
alegada capacidade crítica podem passar, por exemplo, de uma fundamentalista exigência
de cumprimento de uma rigorosa ética das máscaras, com discussões infindas
acerca de se devem ser duplas, com os fios cruzados ou não, com viseira ou sem
viseira, como se estivesse em causa o imperativo categórico ou pelo menos uma
ameaça crucial à existência da própria espécie, para a vituperação do referido
como único império que, nas últimas décadas, fez uma invasão e bombardeamentos
e alegou defesa de minorias étnicas ou políticas com uma narrativa aldrabona, completamente
esquecidas do anterior fundamentalismo (esse e outros correlacionados) sem que
houvesse nenhum motivo para isso como eu posso facilmente verificar nas minhas
turmas reduzidas a metade dos alunos. Porquê esta mudança quase de um dia para
o outro? Porque as televisões encontraram uma forma de condicionamento das
emoções mais forte que a anterior, sobretudo agora que o cansaço das questões
sanitárias estava visivelmente a erodir as audiências antes recuperadas pelos
confinamentos e pela promoção do pânico. Aliás, é característica da existência
inautêntica (ver Ser e Tempo) a ânsia de novidades. Porém, isso não
chega para explicar os fenómenos mediáticos de cancelar toda a referência a
outros assuntos para tudo ser concentrado, nos canais ditos noticiosos, quase
durante 24 horas por dia (ainda restam uns minutos para o futebol), numa única
campanha. Já lá irei. O que mais impressiona é como se passa nas redes sociais de
uma vociferação para outra, sem uma partícula quântica de atividade crítica,
não só através de grunhos e tacanhos, mas através de pessoas supostamente
educadas, tornando-se meras caixas de ressonância das campanhas mediáticas. E,
se se consegue alegar motivos justos para a referência a um assunto ou até
mesmo uma causa, como justificar o que fica na obscuridade do holofote
mediático? Por exemplo, as mulheres no Afeganistão estarão a passar por um
alívio na perseguição que lhes foi movida? Ou só merecem a vozearia nas redes
sociais quando o holofote mediático nelas incide? E muitos outros casos há que
nem foram nunca, ao menos por aqui, objeto da atenção mediática.
A
verdade é que as pessoas supostamente educadas só supostamente o são e a sua
cultura, após umas leituras forçadas nas escolas frequentadas, se resume ao que
os media lhes vão fornecendo. A maioria reproduz tudo, tal qual, as tais
caixas de ressonância, na exata medida das chamadas agendas mediáticas, outra
forma de referir as campanhas da teletela, só encontrando motivo para debates
acirrados nas alternativas fornecidas pelos mesmos media, reality
shows, rivalidades clubísticas, etc., assuntos em que são capazes quase de
se matar, apesar de poder apenas estar em causa um jogo de putos jogado e
seguido por adultos que nunca conseguiram amadurecer. Mas quando ocorrem as
campanhas gerais dos media – e elas estão constantemente a ocorrer –
apenas refletem seja o que for que digam, por mais disparatado que seja, mesmo
a miss guerrilheira que já estaria na linha da frente. Uma ínfima
minoria, face às manifestas contradições dos media, adota a atitude
inversa e desconfia de tudo, mesmo dos factos mais manifestos, isto quando não
elabora teorias da conspiração tão disparatadas (entre as quais incluo as
rebuscadas explicações de como um inequívoco agressor pode ser apresentado
como estando a defender-se de uma
agressão, o que é mais contrafactual do que os supostos chips do Bill
Gates) que constituem uma excelente forma de reforçar a absoluta e exclusiva
verdade das campanhas que, assim, disfarçam os seus próprios e evidentes
disparates. E assim, quase todos, ao menos entre os que habitam as redes
sociais, apenas refletem o condicionamento elementar levado a cabo pelos media,
nada pensando ou de nada falando senão do assunto (e da tese) do dia. A
campainha toca e salivam, só se alterando o objeto da desejada digestão.
Mas
estas caixas de ressonância não se resumem às chamadas notícias, o seu próprio
pensamento acerca de tudo é determinado pelo que se diz nos media. As
mesmas pessoas, aliás, podem ter opiniões absolutas em diversas fases da sua
vida acerca dos mesmos assuntos totalmente divergentes – e a única base para
essa divergência é o que se passou a dizer nos media. Isso é facilmente
verificável em qualquer discussão, os únicos argumentos que são trazidos por
essas pessoas são retirados dos programas televisivos e as mais sofisticadas
talvez consigam encontrar alguma coisa na internet. Nunca referem um livro,
mas, se o referirem, será resultado das suas antigas leituras escolares. E é
claro, o seu poeta preferido é sempre Fernando Pessoa que subscrevem num lugar
comum boçal de autoajuda que nunca foi escrito por ele. É difícil descrever a
indigência intelectual que passa por cultura no meio público e, por isso, por
tal tão absoluta falta de espírito crítico, se revela tão fácil implementar
políticas educativas de condicionamento socioemocional que só tendem a agravar
cada vez mais esta situação (ou a melhorar, pois nada convém mais a quaisquer
poderes que a fácil manipulação emocional e a incapacidade de formular um
argumento consistente). Há uns anos, entretinha-me, até para ter exemplos nas
aulas sobre retórica (entretanto, não por acaso, banidas), a ver, primeiro, os
espaços de determinados líderes de opinião, como o Marcelo, e depois os espaços
de opinião pública. A esmagadora maioria dos intervenientes reproduzia ou
fragmentos do que o Marcelo tinha dito, ou, em menor grau, fragmentos do que
outros líderes de opinião tinham dito. E isto passava e passa por manifestação
da opinião própria. Mesmo as alternativas de opinião não passam de ressonância
do que é inculcado pelos media e a esmagadora maioria nada pensa sobre
nenhum assunto que não seja evocado pelos mesmos media. Mas pior ainda é
aquilo que é estimulado por esses órgãos. Os órgãos de comunicação social pegam
nos piores aspetos da existência inautêntica, o seu primarismo emocional, o seu
dogmatismo, a estimulação da fé cega, o imediatismo descontextualizado, o
comodismo, a covardia perante as realidades fundamentais da existência, o
conformismo, a falta de sentido histórico, a redução ao já dado, a falta de
sentido de problema, a recusa de elaboração intelectual, o sistemático recurso
a falácias, etc., e amplificam-nos até não ser possível dizer seja o que for
que não esteja subordinado à sua chancela. É, aliás, a única forma que conhecem
de recuperarem o domínio que sentiam perder para outros media, como o streaming
e as redes sociais.
É
isto novo? Não, não tem nada de novo. Os entusiastas das novidades tecnológicas
concentram-se em quão diversos são os meios, rádio, televisão, internet, e pode
haver mesmo pessoas com algum sentido crítico que julguem que houve uma
alteração não só de grau, mas de natureza, nas campanhas mediáticas. Ainda no
séc. XIX, embora mesmo no final, uma campanha mediática, levada a cabo por
nomes até hoje muito conceituados, levou à guerra que garantiu um fácil império
aos Estados Unidos sobre os despojos do espanhol, podendo manter um discurso
anticolonialista porque eles só estavam a garantir o direito à autodeterminação
dos povos oprimidos. As campanhas sucedem-se ao longo da Idade Contemporânea e,
se, por vezes, há uma reação pública significativa, como houve no caso Dreyfus,
aliás liderada por alguns dos maiores intelectuais da época, levada a cabo
também por imprensa de sinal oposto, inúmeros são os casos de campanhas
opressivas, sem ou quase sem contraditório, levadas a cabo não só em regimes
ditatoriais, mas também nas democracias representativas. Que nada mudou, a não
ser eventualmente para pior, é o que mostra o entusiasmo com os que os media
recebem as sucessivas censuras ou cancelamentos de pessoas ou movimentos nas
redes sociais ou de órgãos de comunicação social alinhados com o inimigo. Se
ocorrer uma revolução instauradora de um regime oposto, só se notará a
diferença por serem os atualmente sancionados, os censurados e cancelados,
como, aliás, já se passa em diversos outros países. Até podem acontecer
revoluções opostas nos diversos países e eles continuarem a opor-se, mas
instalados nas posições inversas. E, em todas essas alterações, os media
continuarão a cumprir as suas funções que nada têm a ver com liberdade de
expressão, garantia do estado de direito ou objetividade factual.
Nem
vou sublinhar os aspetos mais caricatos do jornalismo nacional porque este é
sempre preguiçoso, incompetente e, por isso, reduz-se aos piores aspetos dos media
internacionais, aqueles que estão mais à mão. Se têm uma campanha em curso, nem
se dão ao trabalho de noticiar seja o que for para lá disso (isso foi bem
visível em várias fases da pandemia em que um telespetador que ligasse os
canais estrangeiros descobria de repente um mundo que aqui parecia ter deixado
de existir). As reportagens são sempre feitas em lugares ou eventos já
agendados como se se tratasse de uma versão burocrática do jornalismo: mostram durante
horas traseiras de autocarros, vão para a entrada de uma dada instituição onde
nada se passa noticiar não se sabe o quê, entrevistam as pessoas nas ruas
encostadas ao estúdio de televisão, ficam de plantão nos aeroportos ou noutros
pontos onde chegam meios de transporte, mostram as reações de convidados a um
jogo que não estão a transmitir e muitos outros comportamentos absurdos a que
se habituaram de tal forma os portugueses que já não os estranham. Já nem falo
do ridículo boçal provincianismo de tanto só ser noticiado por envolver um
qualquer português no estrangeiro, ao ponto de, por exemplo, uma equipa ser a dele mesmo sem
ter sido convocado. O jornalismo neste país é uma anedota e poderia passar
horas a exemplificar a anedota sem que isso cumprisse qualquer fim para lá de
provar o óbvio. Porém, essa anedota não passa de uma caricatura de uma
realidade internacional que igualmente reflete. Se, de facto, os media
não cumprem nenhuma das funções que dizem cumprir, qual exatamente a sua
função?
É
evidente que os media são poderosos meios de condicionamento e
manipulação da população, sempre ao serviço de interesses mais ou menos
ocultos. Os menos ocultos são os que já se expressam nos governos – não os
próprios governos, mas aqueles para quem eles fazem os decretos-leis e, caso
tenham maiorias parlamentares, leis, muitas vezes elaborados diretamente por
esses mesmos interesses como, vez em vez, é denunciado por algum político ou
profissional mais desenquadrado. A evidência de não existir imprensa livre é
dada pela unanimidade dos media em múltiplas campanhas governamentais ou
em campanhas que forçam os governos numa dada direção, ao contrário do que
ocorria noutras épocas. Quando existe um outro lado na imprensa internacional,
há sempre, aqui e ali, referência às
suas notícias que são sempre referidas como pura manipulação, exatamente quando
estão a fazer exatamente isso mesmo, e o mesmo se pode ver ser feito pela outra
parte, apresentando juízos de valor como informação (por exemplo, os
terroristas de um lado podem ser os mártires do outro e cada um dos lados
apresenta uma das qualificações como factual). Esses mesmos interesses, os que
forem mais poderosos, podem mover campanhas contra os governos se, por alguma
razão, não se sentirem satisfeitos – e aí os governos não duram muito, como até
neste país já se viu acontecer. A chamada opinião pública é sempre formatada
por essas campanhas, se não na totalidade, ao menos na maioria, e a sua
orientação é tão elementar como a de uma manada, não tendo as razões nenhum
papel que não seja o de servir de incentivo, um pouco à semelhança das palavras
de ordem nas manifestações. Se as razões tivessem algum papel, poder-se-iam
confrontar com contra-argumentos, mas só o conseguem fazer de forma falaciosa,
por exemplo, com espantalhos, ignorância das condições, apelos à ignorância ou
a autoridades indeterminadas ou não qualificadas (por exemplo, “o que se diz”),
analogias vagas, tirando conclusões que não se seguem das premissas, etc. Na
verdade, reproduzem apenas o que ouvem nos media até nos recursos
falaciosos e sentem ter sempre razão por dizerem aquilo que outros dizem, sendo
absolutamente incapazes de avaliar o valor de um argumento por si,
independentemente da vozearia associada a uma tese. Mas todos estes processos
bem conhecidos de condicionamento das massas ainda apenas afloram a função dos media.
Os
media servem para formar e dar consistência à gente, qualquer gente,
desde que com esse termo se expresse um coletivo disseminado contraditório e
hostil a ser pessoa, ou seja, um indivíduo que pensa com base em argumentos por
si articulados e que é capaz de projetar o mundo, quer dizer, estabelecer por
si uma arquitetura de compreensão e de sentido para aquilo que para a gente não
passa do ambiente a que reage. Os media até podem dar audiência a um
representante de outra gente, até de gente inimiga, sobretudo se for
caricatural, mas, se por acaso se enganam e convidam uma pessoa, alguém que não
usa os termos esperados, que não se subordina à forma estulta e estereotipada
como põem as questões, que não diz algo que possa ser identificado como representante
de uma das manadas, que se interroga sobre aquilo que os media não
querem que ninguém se interrogue, não voltará a ser convidado – a não ser que
atinja, por exemplo, o estatuto de escritor consagrado e aí é tratado de forma
muito paternalista como uma curiosidade folclórica. Os media servem, em
todas as épocas, para dizer às manadas como agir, o que e como pensar, o que e
como sentir, como viver e, sobretudo, como e o que sonhar. Podem ir mudando as
tecnologias, que não se alterará o papel dos media, variando mesmo pouco
com os regimes políticos, havendo apenas uma preocupação acrescida no nosso em
fazer crer aos membros da gente que o que estão a pensar, a fazer ou a dizer é
uma manifestação da espontaneidade pessoal que só está em concordância com o
ambiente social envolvente porque se trata de uma evidência indiscutível – a
maioria nem repara que tudo o que diz apenas papagueia o que antes foi
estimulado ou até transmitido tal qual pelos media. Nada se diz ou se
faz que não no quadro pelos media predeterminado, muitas vezes admitindo
alternativas, mas apenas aquelas que forem sancionadas, assim formatando
gostos, preferências, crenças que, como as modas de vestuário, depois cada qual
julga resultarem da sua escolha espontânea. Nas épocas devidas, pois existe
condicionamento diversificado para cada escalão etário, cada qual faz aquilo
para que mais foi condicionado, diz o que ouviu dizer nas seitas a que se sente
pertencer e tem o seu pensamento exclusivamente dominado pela concretização dos
desejos que lhe foram inculcados, em muitos casos desde a mais tenra infância.
Não sendo capaz de explicar o que faz a não ser como sendo o normal ou sendo
especial e rebelde apenas por conformadamente imitar um ídolo pop
qualquer, não há membro da gente que se preze que não se considere livre. E
sê-lo-á plenamente quando ridicularizar, perseguir, difamar ou cancelar um
outro por ser de outra fação ou, pior, por ser um embrião de pessoa, isolado e,
por isso, frágil, a coberto do consenso coletivo que mostra como é natural
atacar uma tal aberração.
Na
atual situação, os diversos meios competem a tentar encontrar uma plataforma
que ainda possa condicionar a gente a um nível mais primário, com a menor
elaboração intelectual possível. Do condicionamento do entretenimento
televisivo e do alinhamento enviesado das notícias, progrediu-se para a exploração
emocional como único conteúdo dito informativo, depois para a provocação
deliberada de situações que possam provocar reações extremadas, depois para as
redes quase reduzidas à reprodução ilimitada de lugares comuns, depois para
redes com limitação da quantidade do que pode ser dito para tudo ser reduzido
ao meme, à palavra de ordem, à piada ou ao discurso de enjoativo amor e
de boçal ódio, depois para redes onde já quase não há texto mas diminutas performances
ou imagens – e, presumo, que já devem haver redutos em que a máxima elaboração
que é possível será a do urro ou do grunhido. Parece, de facto, tratar-se de
uma verdadeira regressão evolutiva, mas não tenho uma visão tão grosseira dos
nossos antepassados hominídeos. Que os media tradicionais só consigam
responder limitadamente a esta progressão, multiplicando as campanhas de
manipulação emocional, sobretudo aquelas que induzem pânico coletivo, o mais
poderoso aglutinador da gente, não é de admirar – e só conseguem algum efeito
significativo para lá das velhas audiências se concentrarem todos os seus
esforços nesse único objetivo, seja a demonização de uma qualquer personagem
pública, seja o colapso de um regime, seja um movimento de contestação, seja
uma crise humanitária, seja uma questão sanitária, seja uma guerra ou
revolução, o que importa é produzir um efeito de conformação exponencial do
coletivo até seja quem for que se atreva à mínima tese ou até problematização
divergente ser imediatamente anatematizado, ostracizado e excomungado da sã
convivência no meio ambiente da atmosfera gregária. E a única forma de não ser
esmagado por essas chamadas tendências que são, na verdade, enxurradas que não
admitem a mínima dissonância, é integrar uma outra tribo oposta, outro coletivo
onde se possa integrar o exército de inimigos, anulando de forma idêntica a
individualidade. A pessoa enquanto pessoa, sem pertencer a qualquer seita ou
partido, está condenada ao fracasso total.
Tenho
estado (menos nos últimos tempos por diversas razões) a elaborar uma obrazita,
sob outra assinatura, cujo tema central é o conflito mortal entre pessoa e
gente que tem percorrido toda a história pelo menos do Ocidente. Como a gente
nada é capaz de criar que não diferentes vozearias pelas quais ganha a força
para impor o seu totalitarismo, nunca teria sido possível qualquer evolução na
civilização se não fosse o contributo de pessoas que são invariavelmente
sacrificadas pela gente. A gente funciona, a gente reage, a gente impõe o seu
funcionamento e reações como naturais, a gente asfixia qualquer possibilidade
de verdadeira diferença bombardeando constantemente todos com os seus lugares
comuns, as suas palavras de ordem, os seus chavões, os seus ditados, os seus
gestos estereotipados, as suas emoções primárias, a sua banalidade que pouco
importa que seja do mal ou seja do bem ou de seja o que for, pois o que importa
é não admitir alternativa à sua atmosfera, até fornecendo uns simulacros de
diferenciação numas batidas diversas para abanar a carola ou em alternativas rebeldes
de vestuário para se julgar que a gente é constituída de pessoas. Os media,
nas suas campanhas, potenciam esse totalitarismo ao paroxismo, anulam as
diferenças superficiais, produzindo uma massa única cujos componentes são
indiscerníveis, com o poder de arrasar, obliterar, desintegrar qualquer
singularidade, apenas podendo ser contida por uma massa com uma força
equivalente. É verdade que podem estar a servir interesses sejam políticos,
religiosos ou empresariais (são diferentes sequer?), mas isso são as funções
superficiais que servem as fundamentais. O fundamental é dar força e
consistência aos coletivos para melhor os poder continuar a dominar. O objetivo
do poder é o poder (sim, estou a citar Orwell). Os media são uma
emanação da gente para garantir o seu domínio e que esse domínio não permita a
emanação de qualquer ameaça significativa, arrasando o mínimo embrião de
individualidade que não se resuma a um estilo ou qualquer outro registo
superficial. Os media são, pois, inimigos de todo o pensamento, toda a
verdadeira criatividade, toda a decência no respeito pelos outros, toda a isenção
no tratamento dos dados, todo o respeito pelo estado de direito, toda a
verdadeira pluralidade. Macaqueiam julgamentos em campanhas de ódio, macaqueiam
pluralidade em espetáculos de entretenimento, macaqueiam denúncias a abusos e
ofensas em que ocultam os seus intencionais silenciamentos. Declaram hoje
abertamente a impossibilidade de isenção para poderem à vontade ser totalmente
facciosos e apresentam como inevitável a sua caricatura atroz da objetividade
factual. E são assim porque é assim que a gente quer que sejam. A cidadania
responsável dá muito trabalho, o espírito crítico é coisa de filósofos do
passado, as obras que criavam mundos de sentido são coisas de génios que já não
existem, reduzidos, aliás, a ícones de consumo fácil e imediato para animar os
chavões da gente. Mas, ainda assim, há pessoas nesse mar, nesse oceano, nesse
firmamento avassalador de gente – e essas pessoas dever-se-iam opor, como seus
inimigos, como alienígenas hostis, senão à gente, o que é impossível por ser
todos e ninguém, ao menos ao seu braço armado, os media.
É
preciso identificar os inimigos de toda a afirmação pessoal e lutar, muito
embora esteja garantida a derrota, como sempre aconteceu e como sempre nunca
impedindo Sócrates, Jesus ou Bruno, sempre os poderes agindo como meros
avatares da gente que nem teria dado oportunidade a Galileu para se retratar.
Os media devem ser denunciados como aquilo que são, uma evolução muito
mais insidiosa da teletela que impõe o conformismo até aos poucos que a eles se
opõem por ditarem os assuntos que serão o objeto da sua oposição. A
possibilidade de ser pessoa depende, em parte, de se recusar a tratar esses
assuntos que os media dizem que são os assuntos do dia e tornar alvos os
próprios media. Será sempre uma precária e efémera afirmação, mas a
alternativa é o afogamento da individualidade no mar da gente. É preciso
recusar por toda a parte a conformação, é preciso pensar o que não é oportuno
ser pensado, é preciso recusar usar apenas os conceitos que se consideram os
adequados, é preciso navegar proposições inesperadas, desvendar contextos olvidados,
inventar articulações reflexivas indesejáveis, é preciso dizer não. Não vale a
pena a ilusão, a gente ganhará sempre, mas, entretanto, teremos filosofia,
ciência, arte, mística, projeção de mundos de sentido, tudo aquilo que se diz
ser próprio do homem e que emergiu sempre de uma ínfima minoria. E só por isso
já vale a pena lutar.
7/3/22