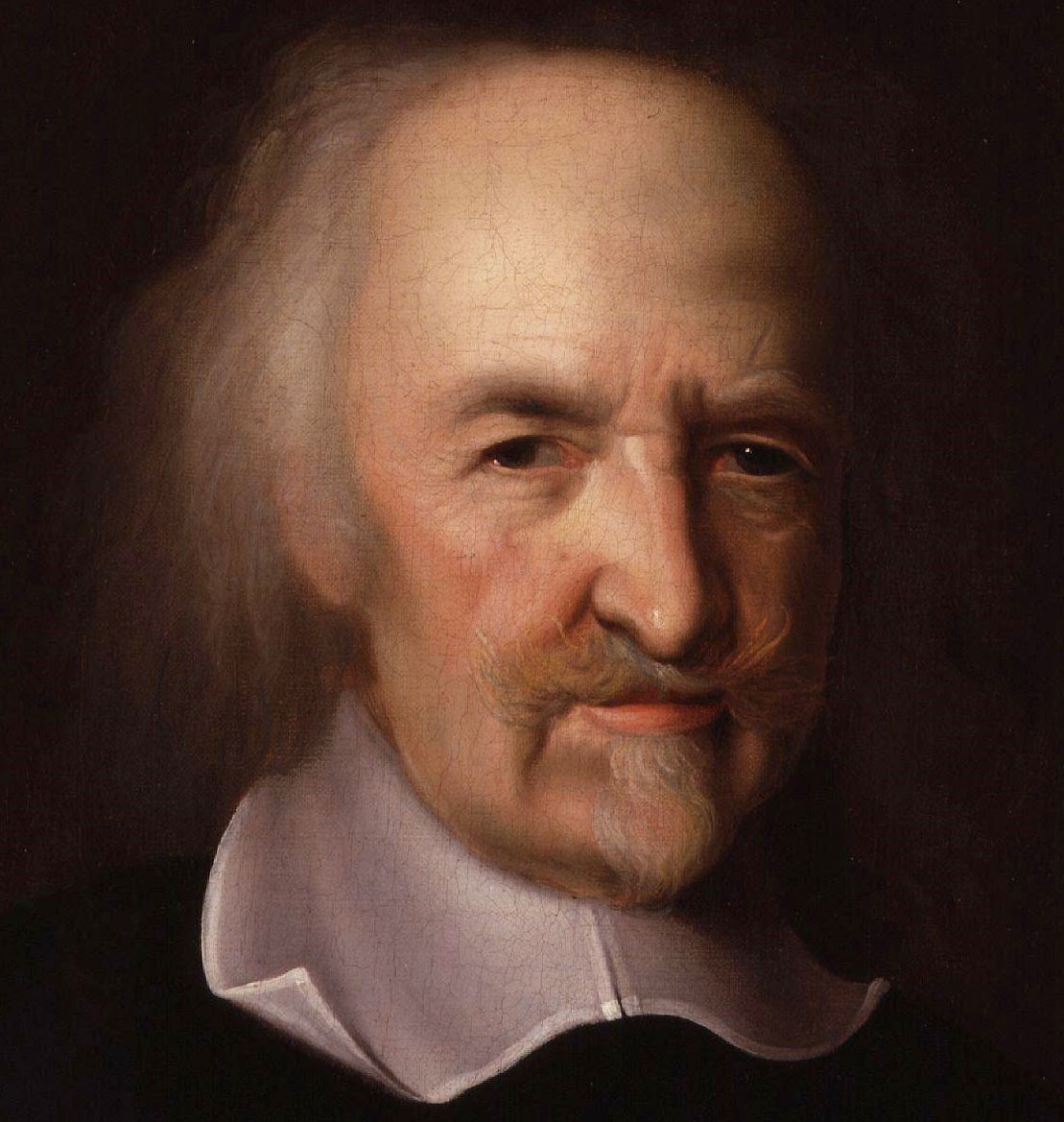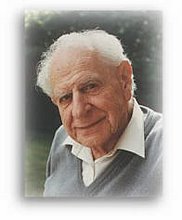A nossa própria inteligência artificial
Nos
últimos tempos, tem estado em discussão o desenvolvimento exponencial dos
programas de inteligência artificial. De um lado, alinham-se os detratores que
veem, nessas inovações, o progressivo fim da humanidade, substituída
definitivamente pela sua própria criação. Em alguns casos, admitem as vantagens
(por exemplo, no domínio das intervenções médicas), mas enfatizam as
consequências nefastas que já estão a ter no domínio da educação e que
determinarão uma cada vez maior obsolescência do próprio ser humano. Do outro
lado, enfileiram-se os entusiastas que encaram esses programas como
instrumentos que potencializam as próprias faculdades humanas, permitindo um
sucesso fácil onde antes avultava a frustração da maioria – e aí incluem a
própria aplicação dessas ferramentas à educação. Claro que é muito difícil
perceber porque consideram como sucesso educativo um simples plágio
potencialmente indetetável, mas tal decorre diretamente da distorcida noção de
aprendizagem que tem sido forjada nas últimas décadas e que se autoestimula
pela constante confirmação dos seus postulados que nunca são submetidos a
verdadeiro escrutínio.
Uma
outra discussão que se intersecta com esta é a que diz respeito às
possibilidades futuras, até onde poderá ir a inteligência artificial. O
caricato desta discussão reside na tradicional antropomorfização. Tal como os
deuses não eram mais do que homens com superpoderes, tal como o Deus único não
era mais que a negação dos limites das faculdades humanas, tal como os
extraterrestres dos livros, banda desenhada e cinema não eram mais que homens
com caraças, também aqui os homens, habitualmente, não parecem ser capazes de
imaginar qualquer inteligência artificial se não à sua imagem e semelhança.
Daí, porem-se a discutir se a IA poderá vir a ter sentimentos, se poderia ter
uma alma, se poderia ter livre-arbítrio, sem reservarem um segundo para se
questionarem porque ter sentimentos é um requisito necessário à inteligência, o
que é essa alma que referem ou se existe verdadeiramente algum livre-arbítrio.
Se se chama a atenção para as simulações artificiais de sentimentos, salientam
ser meras imitações, nunca se questionando se os sentimentos humanos não serão,
eles próprios, resultado de um gradual processo de imitação, tal como evidencia
a variação dos mapas sentimentais conforme a cultura, ou seja, conforme os
padrões que foram inculcados em cada caso. Curiosamente, muitas vezes aqueles
que descartam as simulações como imitações são os mesmos que sobrevalorizam o
sucesso educativo dos alunos que recorrem às aplicações de IA. Por outro lado,
supondo que existe mesmo uma alma, ou seja, uma substância individual que
permanece idêntica a si mesma, também não se percebe porque uma inteligência
teria de ser individual, porque não poderia ser uma colónia a funcionar em
algum tipo de rede ou outro tipo de funcionamento global, com base, por
exemplo, na nuvem virtual. Além disso, o próprio indivíduo, apesar de tão cheio
de si, não é mais que uma colónia multicelular, um ecossistema precário de que
a consciência não é mais que epifenómeno derivado. Essa própria consciência, na
esmagadora maioria dos seus pensamentos, mais não faz do que reproduzir o seu
ambiente social, mostrando o seu caráter ressonante a cada instante, mera peça
emanada de um todo coletivo. De facto, a única individualidade radical da
maioria reside no desejo que a faz submeter-se ao coletivo. Mas até esse
desejo, exatamente por ser antepredicativo, parece provir de uma instância
indiferenciada, só tendo a consciência que reconhecê-lo e ser determinada por
ele, sem nunca o ter escolhido, mas apenas escolhendo segundo ele. E assim se
chega à derradeira ilusão acerca do humano, o livre-arbítrio. Cada vez que um
programa informático opta pelo 0 em vez do 1 está a escolher porventura de forma
mais consciente do que a escolha feita por humanos. Dir-se-á que é uma escolha
inteiramente determinada, sem alternativa. Alternativa existe, o 1 em vez do 0,
não existem é motivos para o programa a escolher, visto não cumprir da melhor
forma o seu fim. Da mesma forma, um humano escolhe aquilo que tem motivos para
julgar que satisfaz melhor o seu desejo. A única diferença é que erra muito
mais que o estrito cálculo artificial operatório na prossecução da satisfação
desse desejo que o anima e que, é claro, nunca escolheu, mas em função do qual
faz todas as escolhas. Assim, a ilusão do livre-arbítrio parece radicar não
apenas no desconhecimento das causas que determinam o desejo, mas também na
incerteza quanto aos meios para alcançar os fins. Ora, a escolha de fins
inadequados para satisfazer o desejo não é, de facto, sinal de um poder
misterioso de escolha livre, mas apenas de um conhecimento deficiente e/ou
limitado. Se o conhecimento de cada qual quanto aos meios para satisfazer o
desejo fosse perfeito, não haveria qualquer variação nas escolhas. Dir-se-ia
que ainda aí diversos indivíduos se satisfariam com diversos fins, mas, na
verdade, esses fins não passam dos meios projetados para a satisfação que quase
invariavelmente acaba por não ser plena exatamente pelos erros de cálculo em
relação ao que satisfaria o indivíduo. E mesmo que houvesse diversas formas de
satisfação plena, ainda aí não se veria em que é que isso demonstraria um
livre-arbítrio diverso de uma máquina, pois também diversos programas podem ter
diversas escolhas conforme o tipo de programa, não encontrando todos a
satisfação nos mesmos fins.
Porém,
todas essas discussões me parecem laterais ou menores, visto nunca se
questionarem em relação àquilo que supostamente pretendem proteger ou potenciar.
De facto, antes de questionar os perigos de uma eventual inteligência
artificial dura, completa ou forte, a questionação deveria incidir sobre o
domínio da inteligência artificial nos próprios humanos. Apesar desta questão
estar implícita num grande número de abordagens do pensamento do séc. XX,
talvez devido ao cada vez maior domínio da filosofia analítica, talvez a mais
rígida versão filosófica dessa inteligência artificial que, muito naturalmente,
não se quer reconhecer como tal, ocorre, atualmente, uma amnésia generalizada
quanto ao poder da técnica moderna na formatação do pensamento humano,
concentrando-se toda a discussão nos perigos de alguns dos seus produtos. De
facto, a discussão assemelha-se à discussão da época de fogos, em que se vê o
problema nos incêndios e não nos incendiários e nas condições que os propiciam,
os interesses envolvidos nos próprios incêndios ou nas produções incendiárias, incluindo
a redução da floresta a recurso industrial, a negligência indolente e/ou dolosa
do Estado e as variáveis climatéricas efetivamente desprezadas. Da mesma forma,
teme-se o domínio da IA e ninguém se questiona até que ponto não é já a
inteligência humana artificial, razão, aliás, de a IA se poder tornar todo
poderosa, visto já não existir nenhuma inteligência humana que não a artificial
e, à medida que a IA se desenvolver, se tornar notório que, não tendo nada de
específico ou diverso, a inteligência humana nada terá para oferecer ao caos do
domínio técnico a não ser uma inteligência de pior qualidade, cada vez mais
obsoleta.
Não
me estou aqui a referir à acefalia da gente, reduzida a ressoar o coletivo. Há
alguma coisa que sempre ficou entre esta acefalia e o raríssimo pensamento
autónomo. Partilha com a acefalia a necessidade de seguir modelos, mas tenta
pensar a partir desses modelos, dentro do espartilho por eles proposto. Um
exemplo bem tradicional desse pensamento artificial é a Escolástica. Porém,
mais do que o referencial dogmático das crenças religiosas que traça o limite
que os autores não poderiam transpor, o que caracteriza o caráter artificial
desta inteligência é a metodologia, sobretudo após a fixação do enquadramento
aristotélico. Qualquer um que leia a Suma
Teológica não pode deixar de traçar o paralelo com as abordagens atómicas,
sempre subordinadas aos mesmos procedimentos de cálculo, dos modernos papers analíticos. É por isso, aliás,
que muitas vezes tenho chamado à filosofia analítica uma nova Escolástica,
mesmo para lá de alguns dos seus autores serem de facto escolásticos de forma
literal, pois o que lhe dá consistência é uma forma sempre idêntica de tratar
os problemas, uma inteligência domesticada que consideram um paradigma de
rigor, mas que, na verdade, se reduz a uma abordagem atómica inteiramente
artificial e intencionalmente ignorante de todo o contexto e de toda a
articulação que vá para lá da discussão do minúsculo esqueleto argumentativo. Ora,
mesmo tendo havido modelos anteriores deste pensamento artificial, ele começa a
tornar-se todo-poderoso na revolução científica do século XVII, alcançando a sua
maior expressão na res extensa de
Descartes, mas sendo antecipado no ideal de ciência-técnica de Bacon, nas
fórmulas de Galileu ou no pensamento reduzido a cálculo de Hobbes. Naturalmente,
não são esses autores que desenvolvem a inteligência artificial, eles fornecem
modelos de artificialidade que, depois, servem de bitolas pelas quais se regem
os seguidores. Aliás, todo o espírito académico enquanto académico (moderno,
entenda-se – não me estou a referir à escola de Platão) caracteriza-se por esta
exigência de operar com os modelos já dados, modelos tão artificiais quanto for
possível, de forma a facilitarem a reprodução. Invariavelmente, esse espírito
opõe-se ao radicalmente novo, mesmo quando se julga muito moderno por estar a
reproduzir modelos disruptivos. Na verdade, o que esse espírito faz, em cada
caso, é extrair a estrutura, o esqueleto, a armação de um autor ou corrente que
porventura nem as reconheceriam, tornando esses esquemas artificiais em
normativos que passam a ter de ser seguidos na academia. Essa extração de
modelos artificiais atinge o seu paroxismo caricatural na arte, pois transforma
puras manifestações da espontaneidade individual em referências dogmáticas, sem
que se consiga sequer explicitar qualquer verdadeira razão, mesmo que circunstancial
e forçada, para ser assim em vez de outro modo. A ocultação dessa falta de
razões por trás de discursos pretensiosos e vazios, cheios de declarações que
não significam nada, já não engana sequer os interessados. Mas tal dogmatismo
constitui um referencial precioso, mesmo que totalmente arbitrário, para a
manipulação especulativa do mercado.
Na
própria tecnociência, o seu ambiente quase natural, esse pensamento artificial
está sempre em expansão. A insistência no método científico, já assim chamado
dogmaticamente, não determina a menor descoberta, sendo apenas uma
superstrutura ideológica justaposta sobre o trabalho científico que, depois,
depende dos méritos dos cientistas individuais que chegariam às suas
descobertas com ou sem tal referencial dogmático. Já Leibniz chamava a atenção
que o método cartesiano não tinha permitido a menor descoberta dos seguidores,
muito embora todos acreditassem piamente no seu valor. Muitos cientistas
tiveram que mentir quanto ao seu cumprimento do método positivista, para que as
suas hipóteses fossem aceitáveis, muito embora essas hipóteses nunca pudessem
ter sido obtidas por estrita indução. As ciências sociais e os seus sucedâneos
políticos multiplicam a inteligência artificial de vários modos, sendo seu
emblema maior o organigrama. Tal qual Descartes pensava um mundo físico
reduzido a figuras geométricas, sendo seu fundamento único os modelos abstratos
mentais da matemática, todo o mundo prático, no sentido tradicional
aristotélico, procura reduzir a realidade a essa arrumação abstrata e
estritamente artificial do organigrama. Esses organigramas raramente servem
para alguma coisa, mesmo na educação, visto não fornecerem o crucial, a
compreensão das relações. Mas são considerados indispensáveis, chegando a ser
exclusivos, porque o que é fundamental para o pensamento artificial é ter um
modelo que se siga, mesmo que não potencie nada, não permita a compreensão de
nada, nem resolva nada. O mesmo se diga dos mil e um documentos que se julgam
estruturar burocraticamente a atividade nas escolas e que os fiéis acreditam
piamente, sem nenhuma evidência para tal, a não ser os produzidos pela sua
própria adulteração dos dados, produzir efeitos mágicos nas aprendizagens. Da
mesma forma, os governos desdobram-se na reprodução desses modelos artificiais,
sem qualquer efeito benéfico que não seja o de produzirem a tal referida
deformação dos dados, acabando por inevitavelmente estarem dependentes de algum
bom trabalho individual para não darem origem ao desastre. Na verdade, aliás, esses
modelos revelam todo o seu poder antes de mais em ambientes totalmente
artificiais, como o dos mercados financeiros. Estes, por si, não produzem coisa
alguma e falham constantemente não só na compreensão da realidade, como até nas
previsões que lhes dizem diretamente respeito, mas quase parece que seria
impossível viver sem eles, tal a formatação já obtida do pensamento por tais
modelos artificiais, abstratos e especulativos. A subordinação a paradigmas
indiscutíveis não ocorre apenas na ciência normal, mas na economia normal, na
medicina normal, na educação normal, na política normal, na arte normal e na
filosofia normal (à qual, aliás, querem garantir o estatuto de ciência normal,
como é característico de uma escolástica).
A
vitória da máquina na era moderna, a vitória das redes comerciais
proporcionadas pelos meios de transporte, a vitória da eficácia da produção
industrial, a vitória da aplicação das inovações técnicas e científicas,
tornou-se um modelo para o próprio pensamento que procurava replicar o seu
sucesso, eliminando todos os elementos prejudiciais à sua operatividade, por
muito que fossem necessários à compreensão. Kant, embora referindo-se
porventura mais ao que hoje é habitual chamar senso comum, a acefalia das
gentes, sublinha, num famoso opúsculo, o caráter artificial desse pensamento: “Preceitos
e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional ou, antes, do mau uso dos
seus dons naturais, são os grilhões de uma menoridade perpétua.” Instrumentos
mecânicos assinalam a transformação da inteligência em maquinal. Mas não só.
Asseguram uma eterna subserviência, uma negação da própria possibilidade de
pensamento autónomo, a não ser talvez o vocacionado para sujeitar os outros, o
dos tutores, ou até nem esse, pois mesmo os tutores tendem a reproduzir os
modelos já dados. Esse pensamento mecânico, essa inteligência artificial,
tornou-se, entretanto, omnipotente. Toda a inovação consiste na mera combinação
dos mesmos modelos mecânicos, um pouco como a res extensa cartesiana permitia a mais diversa combinação da mesma
suposta realidade homogénea. Todas as soluções apresentadas só são apreciáveis
seriamente se forem técnicas e só são técnicas se reproduzirem a eficácia das
máquinas. Feyerabend sublinha, com base noutros autores, como os médicos
deixaram-se formatar pelos instrumentos, ao ponto de nunca confiarem no seu
juízo independente das máquinas, contribuindo isso para uma degradação da
medicina que foi camuflada pelos resultados do desenvolvimento social. O mesmo
se diga de inúmeras outras áreas. Durante os últimos séculos, pesem embora as
reações que podem ter tido algum eco durante algum tempo, mas que acabam por
nada alterarem a médio prazo dado o ímpeto imparável da gigantesca vaga
técnica, os homens foram anulando, passo a passo, todas as potencialidades
alternativas do seu pensamento, a interpretação simbólica, a crítica
sistemática, o próprio espírito de sistema, a busca de sentido último da vida e
da ação, a imponderabilidade da beleza, para só admitirem os modelos de
pensamento inspirados na ou até ditados pela máquina. A inacreditável pobreza
de espírito que daqui resultou ainda se agravou ao tomar-se como referência o
exequível pelos programas informáticos. Na educação, a progressão foi não só
imparável, mas hiperbólica: embora se diga o contrário, eliminou-se toda a promoção
de autonomia crítica, toda a hermenêutica não estereotipada (e, em muitos
casos, até a estereotipada), toda a criatividade não tutelada. Os adolescentes
com sucesso são os que mimetizam ou operam, sem qualquer coragem de afirmar uma
tese própria. São condicionados a desenvolver competências, vendo-se a si
próprios como peças disponíveis para o tecido produtivo. Os professores
reduzem-se a reproduzir os modelos informatizados. Tudo isto preparou o fácil
domínio, na educação, como na medicina, no tecido produtivo, na arte, etc., da
IA. Se os próprios docentes já não faziam mais do que ecoar os produtos
fornecidos digitalmente, produtos até já atrasados e ultrapassados, que
resistência poderiam fornecer a produtos digitais bem mais avançados que já não
conseguiam acompanhar? Não deixa de ser caricato o entusiasmo de certos
docentes pelas ferramentas que os irão substituir, mas, habituados como estão
aos modelos de pensamento artificial, como poderiam justificar uma recusa ou
até qualquer resistência? E haverá alguma razão para se opor ao triunfo da
inteligência artificial quando esta há muito já triunfou na própria mente dos
humanos?
Porém,
o homem sempre se fez ao fazer. Cada inovação produzida pelo homem tornou-se
não só um apoio, não só uma inspiração, mas um modelo para o pensamento, quer
isso se traduzisse numa bênção ou numa maldição. Além disso, a maioria da
humanidade sempre precisou de modelos normativos que fossem fáceis de seguir,
receitas que só houvesse que aplicar, instruções para operar os instrumentos.
Para que a massa o pudesse fazer, sempre foram necessários inovadores e
replicadores dentro dos estritos quadros fornecidos para obter as soluções. Tudo isso é
inerente às sociedades e culturas humanas. Assim, esta defesa de uma
inteligência artificial na própria mente humana parece não ser mais que uma banalidade.
Não digo que não. A unilateralidade da mentalidade habitual não é nenhuma
novidade, nem sequer relativamente à era.
A
novidade está na anulação do resto e na eliminação de modelos de real
diferenciação. Já foi muitas vezes sublinhado que a dessacralização da nossa
era não foi obtida por qualquer superação do homem, ao contrário do desejado
por tantos no séc. XIX, até mesmo por aqueles que reconheciam a verdadeira
origem de tal dessacralização, mas pelo facto de o homem habitual se ter
tornado incapaz de transcendência, até mesmo da que resultava do reconhecimento
da sua limitação e impotência, pois remetia para um além inatingível. Uma tal
transcendência, na verdade vazia, era, porém, muito importante para que o ser
humano não julgasse a sua realidade a totalidade absoluta. O servo da gleba que
era esmagado pelo mistério e/ou majestade de uma igreja onde se cumpriam
rituais insondáveis com riquezas insuspeitadas e uma língua incompreensível,
tinha uma consciência vaga, mas omnipresente, da insuficiência de tudo o que
pensava, o que dizia, o que fazia, todas as normas, todos os preceitos, todos
os ditados, todas as crenças que estruturavam tudo o que compreendia do mundo,
mais não sendo do que proclamações de que muito mais havia que não alcançava. O
cidadão do nosso tempo está convencido que nada mais existe senão o que é
similar aos negócios com que ocupa o quotidiano, que nada mais existe senão a
sua obscenidade e ganância, e tudo se reduz, mesmo na caricatura a que hoje se
chama religião, ao cálculo das vantagens e prejuízos, às operações que permitem
alcançar resultados tangíveis e ao consumo possível dos produtos dispensados
pelo mercado. E o último homem retratado por Nietzsche tem progredido sem
cessar a sua lógica de dominação do conjunto do que entende por real. Durante
muito tempo, mesmo transmitindo tudo de forma dogmática e acéfala, a educação e
a cultura dominantes iam buscar modelos de interpretação, de crítica, de
construção de mundos de sentido, de diferenciação pessoal – mesmo que apenas para
os destruir, com a sua alarvidade, em estereótipos icónicos. Isso deixava uma
nesga da porta para o futuro entreaberta para que alguma consciência fosse
capaz de superar a condição a que a queriam submeter, para ser algo mais e
poder ser a vítima das deturpações futuras. Assim, sempre a custo, mas sempre
de forma regular, era renovada a criação humana, tão necessária para que os
futuros coletivos tivessem novas respostas a novas situações. Mas é cada vez
menos assim. Todo o processo, atrás referido, de artificialização contemporânea
da educação e da cultura caminha no mesmo sentido. Cada suposta inovação
educativa é um cancelamento de possibilidades não maquinais de pensamento, cada
novo sucesso musical reduz o som a elementos cada vez mais estereotipados, cada
nova figura icónica é apenas um reflexo do vazio da massa ou uma caixa-de-ressonância
de lugares comuns. O nosso último homem não rejeita apenas o super-homem, já
não tem a menor consciência da sua possibilidade ou sequer da possibilidade de
qualquer coisa que não os meros interesses, desejos e medos imediatos e
mesquinhos que o movem. O último homem tornou-se a realidade toda e não tem
qualquer consciência de algo mais para lá dela. As transcendências são-lhe
dadas nas prateleiras dos mercados como tudo o resto que, segundo ele, existe.
Os modelos de superação são fáceis e acessíveis a toda a gente, vendem-se ou
oferecem-se como tremoços e preservativos, e não têm maior valor que eles. O
último homem só não atingiu a mais completa felicidade porque ainda não é tudo
absolutamente fácil e acessível. É por isso que receberá entusiasticamente o
triunfo da IA. Nada nela será diverso da forma como ainda pensa seja o que for
e a IA seduz a sua infinda preguiça, permitindo-lhe nem sequer isso ter de
pensar. A IA acabará por produzir a superação de que o último homem é
visivelmente incapaz e fá-lo-á não produzindo um super-homem artificial, mas um
infra-homem sem as limitações que o último homem ainda tinha.
O
homem não está a alienar tudo aquilo que lhe era próprio, o pensamento, a
criatividade, a produção, o trabalho, a política, etc., numa entidade que lhe é
estranha. Não está porque já o fez antes. Todos os resquícios da antiga
atividade humana só são ainda cumpridos forçadamente. Mesmo que não surgisse qualquer
verdadeira IA, todos eles seriam eliminados, um após outro, como resíduos
obsoletos. A entidade estranha invadiu a mente humana e transformou-a, a pouco
e pouco, no reverso de si própria, uma monstruosidade artificial onde nem há
consciência de contexto, de história, de responsabilidade ou de finalidade que
não a satisfação imediata. Mas não é essa consciência que, por exemplo, o
movimento ambiental mostra? Não, não é. Os governos fingem tomar consciência
ambiental, elegendo apenas um fenómeno entre miríades para tomar medidas; mesmo
essas, só são tomadas perante a absoluta evidência dos efeitos já presentes; e,
ainda assim, tais medidas são meramente simbólicas, um pouco como as medidas do
passado contra a pobreza, tomadas por um punhado de almas pias, enquanto a
maioria se mostrava indiferente; por fim, os próprios governos que as tomam e
fazem figura de ambientalistas mantêm os seus níveis de produção e de consumo comprando
aos outros as sujidades que alegam ter banido. Os ativistas culpam os outros
(os pais e avós, os capitalistas, o sistema, os políticos, etc.) e reivindicam
energia barata para poderem continuar a manter os seus padrões de consumo. Nas
escolas, defende-se o desenvolvimento sustentável e exige-se o recurso
exclusivo a ferramentas digitais, sem pensarem um segundo na insustentabilidade
da sua criação e em quão nocivos serão os seus componentes, isto para nem
referir a eletricidade necessária. Nessas mesmas escolas, os ativistas não se coíbem
de usar ar condicionado na menor flutuação da temperatura. E todos falam só de
uma determinada sujidade, apenas num aspeto mais visível (o da emissão no
consumo e não, por exemplo, na fabricação), ocultando todas as outras que não
cessam de crescer e a rapina de cada recanto do planeta para a satisfação do
último homem, nem admitindo sequer a possibilidade de uma outra vida bem mais
pobre, muito mais contida, muito mais sensata. Alguns dirão que há quem tenha
consciência de tudo isto e muito mais. Poderá haver, mas não tem voz sequer
para ser ouvida no futuro como as vozes ignoradas do passado. Na profusão dos
meios de comunicação, só tem alcance o que se expressa da forma mais
esquemática e imediata, e o que reflete e ecoa a indigência intelectual cada
vez mais simplificada e reduzida a uma superfície. Os modelos mais complexos e
já imitados e distorcidos no passado, são descartados por serem demasiado
opacos e espessos para os automatismos do pensamento ainda possíveis. Pouco
interessa se a sua compreensão da realidade era mais adequada, a realidade
atualmente concebida é aquela que é operável de forma simples, mesmo que as
operações sejam feitas usando como conceitos generalidades vagas que
correspondem apenas a uma ficção inconsequente. Seja sobre as guerras e o
panorama geoestratégico, seja sobre a saúde e as medidas sanitárias, seja sobre
as realidades étnicas e as raízes dos diversos comportamentos, seja sobre as
crenças religiosas e as receitas ditas espirituais, seja sobre a orientação
sexual e a identidade de género, seja sobre os movimentos artísticos e suas
manifestações, seja sobre as ideologias políticas e as medidas que delas
decorrem, seja sobre os problemas ambientais e a sustentabilidade económica,
seja até sobre a investigação científica e as inovações tecnológicas, tudo é
tratado no espaço público através de uma pré-catalogação das aparências que nem
consegue cumprir as mais elementares regras lógicas da classificação, e depois
tagarela-se ilimitadamente sobre esses rótulos absurdos, inviáveis e/ou
peliculares como se fossem realidades rigorosamente observadas, nunca se
permitindo a mais ínfima consideração da própria realidade, das suas causas,
das consequências e dos verdadeiros contextos.
Poder-se-á
dizer que sempre assim foi, a tagarelice sobre os lugares-comuns, as novidades,
os conceitos na moda, o quotidiano, sempre foi uma característica da existência
inautêntica das gentes. Porém, noutras eras, sempre se ouviam ou acabavam por
se ouvir mais tarde vozes que se impunham como mais penetrantes, capazes de ir
para lá do véu da incompreensão pública e académica, capazes de chegar a fontes
e de iluminar de sentido o caos da dita cultura coletiva. É natural que
continuem a existir, mas não é possível ouvi-las, silenciadas pela profusão de
ruído que apenas ecoa as platitudes sem sentido que, devido à familiaridade, se
consideram evidências sem qualquer questionação. Os trabalhos académicos sempre
foram redutores, rígidos, deformadores, redundantes, palavrosos sem dizer
palavra alguma que merecesse ser dita – mas eram feitos, muitas vezes,
relativamente a autores, a obras, a investigações que tinham permitido ir além
do discurso pelicular. Agora, são cada vez mais feitos com base nas próprias
conceções peliculares por já não existir noção de poder existir algo mais,
investiga-se com base em noções absurdas, contraditórias e, como estão
generalizadas, nem por um momento se admite a possibilidade de poderem não
corresponder a qualquer realidade. Tudo se agrava mais num país como o meu na
medida em que, cada vez mais, apenas imita a superpotência técnica por
excelência, um país que durante muitas décadas não fazia mais que parasitar
culturalmente a Europa que tendia a compreender muito mal por ser dificilmente
compatível com a grosseira simplificação de tudo que operava em correspondência
com a redução do mundo ao negócio realizada na própria linguagem, na verdade
até na própria língua, mas que é agora, cada vez mais, a única fonte
considerada aceitável de pensamento, investigação e criatividade – à qual se
juntam, naturalmente, todos os seguidores de outras partes, reconstituindo, a
pouco e pouco, a ilusão de uma diversidade que já não existe. Assim, por toda a
parte se reproduzem as suas classificações políticas, psiquiátricas,
artísticas, filosóficas, literárias, morais, etc., sem capacidade de equacionar
outras distinções, dilemas e alternativas que não as produzidas no Império. É
verdade que isso apenas replica o que acontecia no passado com outros Impérios,
mas a cultura que destes provinha estava longe de ser a comida rápida nociva
que é fornecida pelo atual.
No
meu país, logo a seguir ao período revolucionário de 74/75, onde o mais
completo descontrolo tendeu a imperar momentaneamente no sistema educativo,
seguiu-se um período de rápida estabilização, mas com níveis de exigência muito
inferiores aos anteriores. Justificou-se tal situação com a democratização do
ensino que, na verdade, já tinha começado um pouco antes, considerando que era
inevitável a descida dos padrões de exigência quando se pretendia uma
generalização do ensino que não existiria antes. Sem dúvida. Porém, se o
argumento fosse consequente, tal seria um aspeto da democratização a ser
superado, alcançando, gradualmente, um ensino de melhor qualidade. Os nossos
políticos muitas vezes fazem declarações em que parecem crer que foi isto que
se passou, mas não creio que sequer eles, a não ser que sejam mentecaptos (e só
alguns o são), possam acreditar nessas declarações. Adotando exatamente modelo
norte-americano após modelo norte-americano, cada vez mais redutores em termos
técnicos, até o ponto de já se poder usar modelos de outras paragens, pois já
todo o mundo ocidental seguia os modelos norte-americanos, apesar da
deterioração cultural cada vez maior observável nos próprios cidadãos
norte-americanos, as exigências educativas foram se reduzindo cada vez mais,
não só nos conteúdos, mas nos próprios processos de aprendizagem e de
pensamento, cada vez mais incapazes da mais ínfima subtileza ou compreensão
aprofundada, e reduzidos a uma cada vez maior e ostensiva mecanização,
contraditória, aliás, sempre com aquilo que se declarava estar a fazer. Essa redução atingiu, recentemente, a forma
das “Definições das Aprendizagens Essenciais” e é óbvio que o objetivo que elas
procuram atingir ainda não está plenamente atingido, pois ainda há muitas
resistências disciplinares a que seja operada a simplificação desejada pelos
políticos e pedagogos. Entretanto, alega-se que isso é feito para possibilitar
que se realize a verdadeira educação, simultaneamente transversal e
diferenciadora, e, na verdade, há pressões entre os progressistas que mesmo as
exigências disciplinares das DAE sejam ignoradas ou menorizadas. Assim, de
facto, consegue-se, enfim, superar a mecanização acima referida, mas como? Não
é necessária qualquer mecanização se já nada existir para aprender. Claro que
não é isso que é dito, mas há sempre um abismo entre o que é dito e o que é feito, e o que é dito nunca é o que se pretendeu fazer, nem agora, nem nunca.
A alegada autoconstrução do conhecimento pelo aluno é uma pura e simples
mentira enquanto declaração geral. Aliás, já nem é isso que se defende por se
ter passado a considerar negativo qualquer conhecimento como mero conhecimento.
Tudo é camuflado numa linguagem retórica gongórica em que se concede o primado
a umas misteriosas e mágicas competências transversais que não correspondem a
qualquer conhecimento disciplinar. Mas o que, de facto, ocorre na maioria dos
casos é que se hiperboliza o valor dos resultados de projetos que consistem em
simples cópias mal feitas. Com honrosas exceções, a maioria do que se produz
para realizar a aprendizagem das chamadas competências transversais é de muito
pior qualidade que o que se produz com a tradicional mecanização e ainda é mais
mecânico e acéfalo. Pior ainda, a tendência, já evidente em anteriores
experiências e correspondente ao ensinar da e para a vida, publicitado pelas
redes sociais como devendo ser o que deveria ser ensinado nas escolas, reduz a
aprendizagem à reiteração do que já se sabe coletivo, uma mera replicação do
popular e generalizado, e que os alunos já saberiam antes ou acabariam por
saber de outra forma. Assim, a escola é reduzida a um sítio em que as crianças se
podem encontrar para continuar a tagarelice superficial que já domina o
ambiente público. No passado, replicavam-se os ambientes populares e mediáticos
para, supostamente, chegar à vida dos alunos, levando-os, depois, a aprender os
conteúdos. Agora, essa replicação tornou-se um fim em si e a escola só serve
para ecoar a vozearia pública. Longe de se formar o cidadão informado,
deforma-se o indivíduo na conformação ao coletivo e é nesse ambiente propício
que prolifera a colheita dos grunhos com certificação. Quanto à visada
diferenciação da aprendizagem, pode-se sempre considerar que ela é atingida se,
como na cultura popular, qualquer disparate sem nexo é objeto de sucesso, como
os vídeos do TikTok ou as ditas
músicas populares.
Não
vou aqui tratar das razões porque isso está a acontecer, embora as razões sejam
fáceis de identificar e se possam fazer remontar à crítica platónica da
democracia e da sua busca de sucesso através da lisonja do povo. Também não vou
abordar as consequências terrivelmente nocivas destas orientações que acabarão
por se virar contra aqueles mesmos que se visava agradar (o que é, aliás, o que
costuma acontecer quando apenas se tem como objetivo o agrado). Escrevo sobre
isso noutros artigos. O que me interessa é mostrar que toda a progressão foi no
sentido de reduzir a um esqueleto elementar as aprendizagens que, aliás,
continuam ainda a ser assimiladas da mesma forma mecânica na maioria dos casos,
e que ainda isso parece aos progressistas demasiado complexo, defendendo uma
anulação final de toda a aprendizagem que não seja a da reprodução de todo o
ambiente social. Longe de esse processo ter permitido níveis de exigência
superior aos do período pós-revolucionário, assim como o desenvolvimento da
autonomia e do espírito crítico, os resultados são confrangentes e não passam
de uma vaga sombra dos anteriores, muito embora sejam ocultados por um sucesso
sistematicamente forjado. Esse processo torna muito fácil o desenvolvimento da
chamada IA porque, mesmo programas de qualidade muito pobre, conseguem fazer
mais e melhor do que o elementar pensamento artificial a que a educação humana
está reduzida e a substituição desta por programas de ensino tornar-se-á
natural por os professores nada fornecerem de melhor e o recurso à IA se
corresponder de forma muito mais eficaz à tendência cada vez maior para a
preguiça longamente estimulada na sociedade e na escola.
Poder-se-á
pensar que algumas referências feitas anteriormente ao nível de abordagem vago
da linguagem contemporânea, tornada a única audível, se caracterizam elas
próprias pela sua vagueza. Isso é inevitável tendo em conta a vastidão que se
procurava englobar. Posso, porém, dar um exemplo muito elucidativo. Um texto
que uso para os alunos fazerem a distinção entre juízos de facto e juízos de
valor parece-me esclarecedor: “De acordo com a comunicação social ocidental, as
guerrilhas iraquiana, afegã e palestiniana são terroristas. Na Síria, umas eram
considerados terroristas, outras forças rebeldes. Mas para o regime sírio ou
para os russos, eram todos terroristas. No Estado Novo, os movimentos de
libertação das colónias eram terroristas. Os grupos de guerrilha
norte-americanos ou israelitas durante as respetivas guerras de independência
ou a resistência francesa durante a 2ª Guerra Mundial, tendo feito exatamente o
mesmo, são qualificados como heroicos. Nos órgãos de comunicação social de
alguns países islâmicos, os bombistas suicidas árabes são qualificados de
mártires. Muitas são as vítimas que acusam de terrorismo de Estado os
bombardeamentos russos, norte-americanos, israelitas ou sauditas, entre outros.
Isso evidencia que tais qualificações são valorativas e não factuais. A
utilização de tal terminologia é por si só propagandística. Alguém fazer
explodir outras pessoas é o que é, seja feito por quem quer que seja, por que
motivo seja ou por que meios for feito. Herói, mártir ou terrorista, só depende
do lado da barreira que o afirma.” Reparar-se-á que o próprio texto contém a
chave para identificar os juízos de facto e os juízos de valor. Apesar disso,
inúmeros alunos falham, ao menos parcialmente a identificação. Curiosamente,
acertam mais em relação às qualificações “herói”, “mártir” e até “rebelde” do
que em relação a “terrorista”. Porquê? Os jornalistas usam, sistematicamente, o
termo como se fosse uma descrição factual. A ONU tem até definições,
supostamente, objetivas do termo. Ainda agora vi uma amiga comunista a
partilhar um post onde se defendia
que resistência não é terrorismo, referindo-se à causa palestiniana. Ou seja,
mesmo quem discorda das qualificações feitas por jornalistas, por políticos ou
por Estados, mesmo tendo formação filosófica, não deixa o âmbito de formulação
em que é colocada a abordagem. Todos se referem, no âmbito dos media, de um lado e de outro de cada
conflito, a “terrorista” como se fosse a nomeação de uma realidade, como se
descrevesse uma coisa que aí está disposta objetivamente entre as outras coisas
do mundo. Ora, o que se diz ao se usar o termo “terrorista”? Os defensores da
objetividade do termo procuram superar a sua manifesta subjetividade ou
relatividade defendendo que se refere a um ato que tem a intenção de provocar
terror. Nem reparam que supor uma intenção acaba por ainda ser mais duvidoso
que a alternativa subjetiva. Na verdade, cada qual que usa a palavra usa-a por
considerar que o ato em causa lhe provoca terror – e já não usa a palavra se se
trata das ações de um grupo que considera legítimo por estar, por exemplo, a
lutar contra um opressor, preferindo as outras palavras referidas, rebelde,
herói ou mártir, mesmo que esse grupo tivesse a intenção de provocar terror.
Trata-se pois de um puro juízo de valor, um juízo que diz mais como o sujeito
se sente afetado pelo objeto do que descreve o objeto ou narra uma ocorrência.
Ainda aí, pode entrar alguém que defenda que os juízos de valor podem ser
objetivos. Na verdade, é uma discussão legítima se alguns juízos de valor podem
ter algum tipo de legitimação universal e outros não, mas isso não altera o
facto de se referirem a uma apreciação subjetiva que diz mais sobre o sujeito
do que sobre o objeto. Eu posso ter boas razões para considerar um ato bom, mas
dizer que ele é bom não descreve ou narra em nada o ato. A legitimação objetiva
da minha apreciação, se existe, não altera a classificação do tipo de juízo. Ora,
apesar de todos os anos fazer esta abordagem da noção, dada a forma
todo-poderosa como o discurso público impera sobre as consciências, tenho a
certeza que muito poucos (se é que algum) dos meus alunos deixaram de usar a
palavra terrorista como se fosse um termo da ordem factual. Tenho e sempre tive
consciência de estar a lutar contra a maré, mas fá-lo-ei enquanto me restar
alguma consciência.
Poderia prosseguir ilimitadamente a dar exemplos, alguns
bem mais complexos de explicar, de como o discurso patente, aparentemente
transparente, que domina o falar público desde a rua ao laboratório, passando
pelo media, é sistematicamente
velador até da sua falta de sentido, mas ainda mais da indagação das causas,
dos pressupostos e do contexto. Toda a estruturação do discurso público, de
todo o discurso que é admitido e ouvido publicamente, depende de noções que não
são examinadas, que se consideram muito naturais e evidentes e que nem sequer
congruentes são, e, depois, todos os debates já ocorrem com base nessas noções
ou pseudonoções (pois algumas nem significado têm), dando origem a uma
discussão pelicular em que ninguém se atreve a pôr em causa a própria
linguagem. Se acaso algumas noções são alvo de ataque, como, por exemplo, na
noção de género, ainda aí não se questiona se é uma noção que faça sentido, mas
a sua aplicação, conforme cada ideologia. Nada é examinado com detalhe, nada é
submetido a verdadeira crítica, as causas são confundidas com os sintomas, o
fenómeno é considerado a coisa em si. Qualquer tentativa de ir para lá disto é
ignorada porque remete para uma indagação que o discurso pelicular considera
confusa por não se corresponder à linguagem familiar. Ora, esta imensa
simplificação do pensamento que torna tão fácil o domínio da IA corresponde à
omnipotente omnipresença sem alternativa da gente. E as aplicações a que se
chamam agora IA (já chamavam IA a outras coisas antes, mas o pessoal, para
variar, já esqueceu esse facto) parecem ser, não mais, nem menos, que um
reflexo informático dessa mesma gente. Usa como fontes os sites disponíveis livremente na internet que são, muitas vezes,
produzidos pelos contributos dispersos dos mais diversos indivíduos. Muitas
vezes esses contributos já são cópia da cópia da cópia, com as eventuais
deformações que poderão ocorrer. Depois, vai “aprendendo” com as próprias
reações dos usuários, independentemente de qualquer saber que possa ser
aferido. Pelo menos por enquanto, estas IA parecem o resultado da nuvem informática
e apenas realizam a gente, pela primeira vez, como uma aparência de uma
verdadeira mente. Se a gente é o infra-homem, estas IA são uma espécie de
super-infra-homem. Acho que há razões para as temer, mas como potenciação de
algo que sempre foi temível, até por já ter reduzido todo o discurso público a
si: a gente. À medida que se for aperfeiçoando, esta super-gente poderá, de
facto, substituir a gente que se tornará irrelevante, inútil, obsolescente.
Nessa altura, porquê manter essa gente absolutamente indolente a viver? E tendo
a mesma natureza da gente, admitirá sequer a possibilidade da pessoa? E será
essa superação verdadeiramente má, tendo em conta a pouca inteligência
artificial própria da gente? Deixo estas perguntas sem resposta.