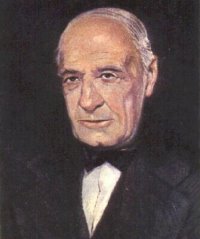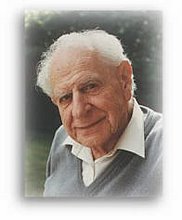Sob o signo da morte de Deus - II
(Adaptado
de texto do início de 2019)
A
abordagem filosófica mais superficial da questão religiosa é a das provas da
existência ou inexistência de Deus, ou seja, dos argumentos elaborados para
sustentar diretamente cada uma das teses. Apesar desta superficialidade, cara à
abordagem analítica, existem componentes ontológicos destas provas muito
interessantes para qualquer pensamento que intente indagar o fundamento da
realidade. De facto, embora tenha afirmado e reafirmado, repetidamente, o meu
ateísmo, também me pronunciei, com significativas restrições, favoravelmente a
aspetos dos argumentos cosmológico e ontológico. Isto indiciará que o meu
ateísmo não será dos mais habituais, pois os agnósticos e ateus não
genealógicos adotam, invariavelmente, como estratégia, a rejeição de qualquer
tipo de validade às provas teístas e deístas. O mesmo, aliás, é feito pelo
fideísmo. Além disso, não partilho a indiferença habitual do ateísmo prático,
não defendo um nominalismo que rejeitasse significado à própria ideia de Deus
por falta de referência empírica, não considero que a metafísica tenha morrido
e que já não haja qualquer sentido para qualquer reflexão metafísica. Pelo
contrário, é sobretudo a partir do ponto de vista da reflexão metafísica que
coloco o problema. Por outro lado, não considero que faça sentido considerar a
noção de Deus a não ser pelo menos no âmbito de uma conceção abstratamente
teísta. Em Deus, é pensado um indivíduo, mesmo que universal e infinito, com
vontade e entendimento, em relação com o mundo, para o qual tem algum tipo de
desígnio. Outras variações (criação num momento ou eterna, causa final ou causa
eficiente, transcendente ou imanente, etc.) podem ser comportáveis na noção de
Deus. Admito que existam algumas conceções deístas que se aproximem de uma
conceção teísta, personificando de algum modo Deus, por exemplo, através da
admissão de um desígnio original. Porém, qualquer conceção deísta que anule
toda a personificação ou qualquer conceção panteísta que o reduza a uma
entidade abstrata global só guardam de Deus o nome, sem que se veja por que
razão não preferiram outra palavra para designar o princípio geral de toda a
realidade, pois já não pensam neste qualquer individualização ou
personificação. Quanto ao fideísmo que só admita, como acesso único ao divino,
a fé, não me parece que seja relevante considerá-lo num âmbito argumentativo, a
não ser como corolário final de uma resposta cética ou como variação extrema da
exigência teísta de fé.
Na
fronteira entre o fideísmo e a argumentação pura, existem diversas tentativas
de pretensas provas empíricas que, na verdade, associam sempre uma componente
de suposta verificação empírica a sustentações argumentativas e
interpretativas. Considero todos esses argumentos extremamente fracos, na
verdade sempre supondo o que afirmam por mero ato de fé, o que é
autossuficiente e, como tal, não requer qualquer argumentação. Aliás, existe
uma forte tradição teológica que equipara as diversas revelações à parte
empírica da religião e que pretende que elas constituam provas empíricas por
si, tal como aquelas que qualquer um pode ter na sua experiência habitual. Ora,
como é evidente, a possibilidade de considerar um dado evidência empírica
depende da possibilidade de repetição da experiência por qualquer um em
qualquer lado, o que exatamente está vedado ao comum dos humanos nas alegadas
experiências de revelação. Assim, já aqui, há um elemento argumentativo
falacioso, o da equiparação com a experiência comum, que ignora uma das condições
mais essenciais para a satisfação das exigências experimentais, tudo fazendo
depender, ao contrário, de testemunhos extraordinários. Na verdade, a aceitação
de tal argumentação levaria a ter de se aceitar a mais disparatada das
patranhas, legitimando a tão humana tendência para a fabricação e a pura e
simples mentira, quando não para o delírio e para a alucinação. Exatamente
devido a esta fragilidade das experiências extraordinárias, seguindo a mesma
busca de sustentação empírica, surgiu a pretensão de provar a existência de
Deus, independentemente de quaisquer considerações racionais, por um
“sentimento”. Neste sentido, pretendia-se que assim como se provam as
existências sensíveis, também se sentiria sempre e por todos o próprio Deus. De
certa forma, as conceções fideístas sustentavam algo similar a esta prova,
visto a fé ser do domínio afetivo e a única forma de aceder a Deus segundo o
fideísmo. Porém, aí, sustentam esse acesso a nível pessoal, ao passo que esta
“prova” defende um “sentido” universal. Isso corresponde ao sensus divinatis de Calvino (muito
embora se possa encontrar noções precursoras, nomeadamente em Aquino). Poderia
parecer uma conceção anacrónica, mas, na verdade, tem vindo a ser sustentada,
ao longo dos séculos, sobretudo nas tradições calvinistas (muito embora haja
outros casos, incluindo teólogos católicos). Mostrando como a suposta filosofia
da religião norte-americana não passa muitas vezes de teologia dogmática
camuflada, essa “prova” também foi sustentada pela filosofia analítica recente,
com a argumentação adicional de que o habitual não reconhecimento desse
“sentido” por todas as pessoas se deveria aos efeitos noéticos do pecado. O
caráter falacioso deste argumento é tão grosseiro que quase dá vontade de o
passar em silêncio. Trata-se de um caso extremo da rejeição de qualquer
refutação empírica, pois qualquer ocorrência em contrário poderá ser
interpretada como decorrente da distorção provocada pelo pecado. Claro, está
decidido à partida que os fiéis seriam os justos, o que é de uma arrogância
desmedida, nem admitindo sequer a possibilidade dessa mesma distorção pelo
pecado poder dar origem à própria crença nesse tal sentimento.
Uma
outra suposta prova do mesmo género, mas um pouco mais indireta, é a pretensão
de provar a existência de Deus pela universalidade da sua crença na história do
homem. Muito comum no passado, à medida que se foram conhecendo outras
tradições, levaram a uma interpretação, cada vez mais forçada, das mais
diversas conceções dos mais diversos povos, no sentido de ver uma preconceção
da divindade nos povos primitivos e uma conceção deturpada ou degenerada
noutros. Newton, por exemplo, defendia que todas as religiões derivariam da
religião adâmica, não passando a diversidade das crenças de distorções da religião
original. Naturalmente, trata-se de uma argumentação muito defeituosa,
dependente de uma interpretação que supõe aquilo exatamente que haveria a
provar, que todas as tradições culturais teriam na sua base a crença no Deus
único. Esta suposta prova tornou-se muito difícil de defender, devido a uma
menor ignorância atual acerca da diversidade das crenças. Existem, porém,
outros argumentos baseados na história e na tradição, supondo já sempre a fé
numa tradição e adicionando-lhe este ou aquele componente, até argumentos de
ordem estética. Lembro-me de um suposto filósofo analítico, na verdade um
teólogo dogmático, que alegava não ser possível uma história mais bela e
empolgante do que a da Encarnação. Ora, poderia recomendar-lhe ler O Senhor dos Anéis que está escrito na
sua língua, assim como muitas outras histórias fantásticas, que, para além de
serem esteticamente superiores, têm a vantagem de conterem muito menos
absurdos. É difícil, aliás, debater com crentes que calam de tal forma a sua
razão que podem com facilidade defender os argumentos mais insustentáveis, como
a unidade e consistência absoluta da Bíblia
que provaria a existência de um único verdadeiro autor transcendente, ou a
total racionalidade de tudo quanto foi revelado. De facto, a fé afirma-se
muitas vezes racional, quando na verdade tem como único suporte a própria fé.
Ora, a fé é um puro ato de vontade que não requer nada que não uma adesão
afetiva, sem necessidade de qualquer argumento. Costumo dizer que para crer
basta querer, mas tenho reparado que uma tal declaração, tão evidente que
poderia ser tomada como axioma, tem reiteradamente provocado a ira dos crentes.
Os crentes querem em geral que haja, para a sua crença, uma sustentação
superior à sua mera vontade subjetiva. Mas isso mesmo reitera o alegado axioma,
pois mais não mostra senão uma crença adicional igualmente alicerçada na
vontade.
Uma
última variante das tentativas de sustentação empírica da existência de Deus é
a existência, na nossa consciência, da lei moral. A estrutura do argumento é
similar aos anteriores, mas com recurso a uma primeira justificação causal.
Toda a gente teria consciência moral. A consciência moral seria uma espécie de
marca do criador no criado. Logo, é um efeito que remete para a causa, um pouco
como a prova causal com base na ideia de Deus de Descartes. O primeiro defeito
do argumento está logo na primeira premissa: nem todos têm consciência moral,
como se pode verificar nos psicopatas. Estranhamente, Kant que rejeitou todas
as pretensas demonstrações da existência de Deus, apenas admitindo que, do
ponto de vista prático, se possa sustentar que há crenças mais racionais do que
outras (os postulados), acabou por dar um argumento adicional a esta via. Na
verdade, Kant constata a lei moral como um facto da razão, o único facto da
razão que atesta a liberdade, visto ser constituída unicamente por uma
aspiração incondicionada que escapa à determinação empírica. Ora, mesmo um
psicopata tem a mesma razão, a mesma faculdade de raciocinar. Embora possa
escolher nunca seguir a determinação da razão, o critério formal da razão, a
sua forma universal, está sempre disponível no seu pensamento. Mas porque razão
isso poderia constituir uma marca deixada pelo próprio Deus? Naturalmente, Kant
não poderia aceitar tal raciocínio, visto a causalidade apenas poder ser
determinante no âmbito fenoménico. Aqui, estaríamos perante um uso
transcendente da categoria. Porém, o incondicionado presente na lei moral
aspira ao cumprimento segundo um critério que, se fosse considerado como substância,
corresponderia exatamente ao representado na ideia de Deus, o absolutamente
incondicionado. Aqueles que procuram dar a este argumento um teor demonstrativo
falham, porém, exatamente no mesmo ponto que falham os argumentos cosmológico e
ontológico. Mas esse é o teor essencial deste artigo e deixá-lo-ei para mais
tarde. Ainda antes disso, a maior fraqueza do argumento é a mesma que a do
argumento cartesiano, a defesa da impossibilidade do nosso espírito ser a causa
da ideia de Deus ou da lei moral. Ora, quer na ideia de Deus, quer na lei moral
estritamente formal, apenas se encontra presente o resultado de uma elementar
operação formal. Como sublinhava Hume, os únicos conteúdos da ideia de Deus são
as capacidades humanas que internamente podemos experienciar. Porém, todas
elas, entendimento, previsão, poder, bondade, presença, etc., são limitadas.
Basta colocar uma negação nessa limitação para ter Deus. Ora, por acaso
Descartes consideraria inacessível ao espírito humano o ato de negar? Na
verdade, seguindo o próprio Descartes, se negar é um ato não do entendimento,
mas da vontade, nem mesmo seria requerido grande entendimento da ideia assim
produzida. É fácil ver que a lei moral é determinada de igual modo, negando as
condições, os limites. Só que a ligação a Deus é ainda mais indireta, pois a
moralidade estabelece um critério incondicionado na ação e não se refere
diretamente a um ser incondicionado.
Quanto
à pretensão contemporânea de encontrar vias obscuras de sustentação de crenças
como a abertura a Deus pela ética em Levinas, por muito que haja momentos
interessantes no seu pensamento, constitui uma eloquente evidenciação de como a
distorção de escolas de pensamento, como a fenomenologia ou a hermenêutica,
pela fé se destina apenas a, através da opacidade do discurso, poder defender
todo e qualquer disparate. Embora este tipo de velamento discursivo, que
permite depois que se possa apresentar como desvelamento seja o que for,
constitua uma forma de dar razão ao rigor da filosofia analítica, importa
lembrar que esta também foi parasitada com os mesmos intuitos pelos homens de
fé. Plantinga usa tanto os meios da filosofia analítica para defender os
maiores disparates da sua fé, quanto Levinas ou Ricoeur usam os meios da
fenomenologia ou da hermenêutica. Qualquer escola de pensamento com algum
sucesso atrai sempre um número indeterminado de soldados da fé cujo desígnio
único é tentar apropriar-se da nova escola para a pôr ao serviço da sua fé. Não
têm a menor preocupação de procura isenta da verdade, de desbravamento de novos
caminhos ou de criação de pensamento verdadeiramente inovador, o seu único
objetivo está decidido à partida, o de encontrar uma brecha para conseguir
restaurar a apologia da sua velha doutrina. Muito rapidamente, o rosto alheio tem,
de facto, para a nossa consciência, uma função simbólica, posso mesmo dizer que
é o símbolo por excelência de abertura ao infinito, uma abertura que rompe com
a totalidade fechada do sistema. Mas considerar, depois, que é o próprio
infinito que tem rosto revela apenas uma imaginação inconsistente que não se
coíbe nas mais grosseiras irracionalidades. Ter rosto e ser infinito são
conceitos incompatíveis a não ser para quem quer restaurar a subordinação a uma
fantasia alucinada. Qualquer psicótico pode pretender que a sua alucinação seja
um ensinamento do além, mas não há qualquer razão para a filosofia considerar
com seriedade tais absurdos que se procuram ocultar por trás de uma linguagem
propositadamente camufladora do seu teor patente. Mas uma consideração mais
detida destas vias recentes deverá ser feita noutro artigo desta série.
Passando
agora para os argumentos mais fortes, começo por salientar que todas as versões
do argumento teleológico, muito diversificadas até de acordo com as teorias
consideradas científicas em cada época, desde as esferas concêntricas e a
teoria do lugar natural de Aristóteles até à recente teoria do big-bang, inspiradora do argumento do fine-tuning, passando pela teoria da
gravitação universal de Newton, a harmonia de Leibniz, a investigação
teleológica dos organismos vivos, etc., acabam sempre por estabelecer uma
analogia entre as obras humanas e a autoria suposta em todas essas ordens. Ora,
ao contrário do que muitos chegaram a defender no passado, a analogia, sendo um
argumento informal, podendo ser muito útil para orientar a nossa vida e até a
investigação, não tem propriedades demonstrativas. Por muito rigorosa que seja
a analogia, estabelecida com base em grande número de semelhanças relevantes e
verdadeiras, a conclusão pode vir a verificar-se falsa. Se se aceitasse que os
argumentos analógicos fossem demonstrativos, atrevo-me a dizer que não haveria
nada que não pudesse ser provado. Com facilidade, se encontraria uma semelhança
estrutural que se poderia acreditar ser relevante, para defender seja o que
for. Logo, existe uma fragilidade argumentativa de raiz nestes argumentos que
não ocorre nos argumentos cosmológico e ontológico. Por outro lado, onde estes
últimos acabam por falhar é onde os argumentos teleológicos mais resistem.
Os
argumentos cosmológicos causais são, porventura, a forma mais intuitiva de
defesa da existência de Deus. O mais completo analfabeto pode argumentar que
isto tudo tem de ter vindo de alguma coisa, ou de alguma causa, ou ter alguma
origem. A estrutura do argumento é muito elementar. Tudo no mundo tem de ter
alguma causa. Logo, o próprio mundo tem de ter uma causa. Mas, se essa causa
tiver, por sua vez, uma causa, então entraríamos numa regressão infinita. Mas
não é possível uma regressão infinita. Logo, tem de haver uma causa primeira.
Considero que as objeções ao argumento são, frequentemente, mal pensadas. Porém,
uma primeira estratégia e talvez a melhor pensada é negar a própria
possibilidade de argumentos causais demonstrativos. É conhecida a crítica de
Hume à noção de causalidade. Hume reconhece que todas as nossas conclusões
acerca da realidade se baseiam no princípio de causalidade entendido como
princípio de associação de ideias. Porém, tal princípio quando visa descobrir
conexões necessárias na própria realidade não tem justificação racional, nem
empírica objetiva. Ao contrário, resulta de uma expectativa interna, uma propensão
instintiva que é ativada pela repetição de sucessões de impressões semelhantes.
No entanto, o hábito não explica os raciocínios causais negativos que não
resultam de qualquer repetição. Se a água de um fervedor colocado ao lume, em
vez de ferver, gelar, eu não concluo que o fenómeno não tem causa, mas sim que
não sei qual a causa. Se investigar o assunto e continuar a não encontrar um
fenómeno que explique a ocorrência, acabarei por reconhecer não conseguir
descobrir a causa, mas nunca concluirei que o fenómeno não tem causa. Se
avançar com hipóteses acerca do estranho fenómeno, bruxas, demónios,
extraterrestres, alucinações, etc., serão sempre tão só e apenas hipóteses
causais. Por outro lado, embora não seja grande argumento (a associação deveria
ser com a presença ou não do sol), é sabido como Reid caricaturou a redução da
causalidade ao hábito na sucessão entre dia e noite. Mesmo não sendo bom o
exemplo, com facilidade se poderia argumentar com outros exemplos (assim,
aliás, se estabelecem correlações causais supersticiosas – maus olhados,
astrologia, etc. –, consideradas normalmente infundadas, mas que poderiam ser
sustentadas pelo hábito e, assim, ter tanta legitimidade quanto a causalidade
considerada científica). Ou seja, o princípio de causalidade é aceite porque
não conseguimos pensar a realidade senão com ele, muito embora não se possa
descobrir a realidade só com ele. Considerar que a sua base é instintiva é
perfeitamente concordante com o facto de nos parecer indispensável. Aliás,
pergunto-me se a validade dos princípios formais como o da não contradição não
radica exatamente no mesmo facto, não conseguirmos pensar de outra forma. Mas
pensar tudo de forma causal não significa descobrir, seja o que for, por mera
demonstração causal. O princípio é, na minha opinião, formal, mas vazio, não
transpondo de todo a sua necessidade formal para as aplicações empíricas. Não garante
resultados apodícticos na ciência da natureza, como Kant pretendia no uso
fenoménico. Encadeados pelo ataque kantiano ao dogmatismo da metafísica
especulativa, os comentadores nem reparam que a sua metafísica da ciência da
natureza era também dogmática, tentando fundamentar a priori conhecimentos necessários que corresponderiam à física
newtoniana. Já na altura se poderia ter identificado tal dogmatismo, mas não
sei como ele não se tornou evidente após a refutação de boa parte dessa física
que supostamente deveria ter uma certeza apodítica e uma verdade necessária.
Regressando
à causalidade, para negar a formalidade vazia deste princípio, seria necessário
mostrar que algo poderia vir do nada. Eu posso não saber o que deu origem a
algo, mas não posso conceber que algo surja do nada porque o nada não pode ter
quaisquer características capazes de dar origem a algo. Tão-pouco se torneia
tal evidência, referindo este princípio, o de nada poder vir do nada, à
substância e não à causalidade, pois não são de todo duas questões diversas,
mas apenas aspetos diversos do problema ontológico. Mas mesmo considerando-as
separadas, eu posso admitir que algo dê origem a uma coisa diversa, mesmo que
seja mera aparência, através de poderes inerentes aos seus predicados; não
posso, ao contrário, admitir que algo provenha do que não tem nem poderes, nem
predicados, nem ser, o que é a limitação, no pensamento, própria da noção de
causalidade. Suspendendo por agora esta questão, todos os diversos detratores
da causalidade que se foram sucedendo mais não fizeram que aproveitar a
limitação kantiana para pretender que só se poderia aplicar a causalidade ao
âmbito fenoménico, acabando sempre, porém, por não poder deixar de pensar
causalmente o âmbito que supunham escapar à determinação causal por não ser empírico,
seja referindo a possibilidade de uma causalidade pela liberdade, a tese da
vontade universal como origem (em vez de causa) das vontades individuais
fragmentadas, a atribuição ao ser de um destino ou até a espontaneidade da
consciência, apenas protegida do pensamento causal através da suspensão de
juízo que impedia a indagação da causa. Tal ignorância da causa da
espontaneidade da consciência foi transformada, depois, na absurdidade de uma
aparente causalidade (embora assim não chamada) a partir do nada, mas apenas
por uma gigantesca falácia do apelo à ignorância, transformando o não
conhecimento da causa da espontaneidade da consciência numa pseudocategoria
ontológica, o nada. Aqui, como em tantos outros assuntos, existe uma constante
e, por vezes, intencional confusão entre a ordem do ser e a do conhecer. Para
conhecer, tenho de estabelecer uma correspondência adequada entre o enunciado e
o objeto. Essa correspondência é sempre precária porque eu não domino o objeto,
mesmo que o objeto seja eu próprio, e o objeto poderá vir sempre a mostrar uma
face antes não desvelada que revela a inadequação do que antes julgava certo.
Isso pode ocorrer pela experiência, pela reinterpretação dos dados e pela
reinterpretação que leva a novas experiências. A limitação do conhecimento é
insuperável e cada nova superação apenas coloca esse limite noutro sítio. Ora,
a realidade é, por isso mesmo, inacessível em absoluto, mas há algo que posso
garantir, independentemente de todas as vicissitudes do conhecimento, é que só
posso considerar o ser que posso pensar. Se nada do que ocorre é pensável se
não causalmente, pretender que algo não pode ser determinado causalmente visto
não termos meios de o conhecer causalmente (a não ser de forma imprópria), é
entrar em contradição com o próprio pensamento. Ou será ilegítimo perguntar
pela causa daquilo cuja causa desconheço? Não se trata apenas de o poder fazer,
eu não consigo pensar que algo não tenha causa. Mesmo uma entidade eterna que
não tivesse sido causada por outra coisa, se não barrar a marcha do pensamento,
devo me perguntar a que se deve tal eternidade. E isso significa que, ainda aí,
estou a pensar causalmente.
Mas
isso não impede que se possa admitir uma causa primeira, ou seja, uma causa
incausada? Em primeiro lugar, o que se afirma ao afirmar uma causa primeira é
que se trata de algo que não é causado por outra coisa – daí, aliás, o conceito
tradicional de causa sui. Em segundo
lugar, é exatamente essa diferença em relação a tudo o resto que implica a
exigência de que só possa ser causa primeira um ser máximo. Admitindo que seja
necessária uma causa primeira, porque não várias ou causas de uma ordem
inferior à divina (o que constitui uma objeção comum e bastante menos pensada)?
É exatamente o caráter único do ente perfeito, transcendente à ordem sensível, onde
tudo é causado por outra coisa, que permite pensar uma causa primeira. Se fosse
algo condicionado, como ocorreria com a concorrência entre várias causas, não
haveria razão para não ser causado por outra coisa. A própria possibilidade
extraordinária de uma causa que possa não ser causada por outra coisa é que
exige que nada possa ser essa causa primeira senão um ser máximo,
incondicionado, não sujeito a qualquer limitação, nem sequer a limitação da sua
existência (contingência).
Por
outro lado, há ainda uma objeção que consegue ser menos pensada porque não
consegue ir para lá da mera declaração numa proposição, não intentando
articular o pensamento para lá disso. É a tal indigência de pensamento que
Leibniz chamava filosofia de noções incompletas e outros mimos do mesmo género.
O argumento cosmológico afirma que, se não existisse uma primeira causa, também
não poderiam existir qualquer dos seus efeitos. E, assim, as cadeias causais
não podem regredir infinitamente.
Ora, os defensores da objeção que se irá agora considerar, consideram que
uma cadeia causal que regride infinitamente não tem, por definição, uma causa
primeira. Portanto, concluem que, se não existir causa primeira, os efeitos da
cadeia causal não deixam de existir. A objeção inclui, de
facto, uma disfarçada petição de princípio. Embora se refira à definição, já
supõe que o conceito de uma cadeia causal que regride infinitamente é algo que
pode existir, que é o que é posto em questão, sustentando-se que essa
existência é paradoxal, absurda. Como é que são pensáveis efeitos finitos se
supomos uma cadeia infinita na origem desses efeitos? Tal como Leibniz
criticava, no seu tempo, noções imaginárias absurdas como a de número infinito,
exatamente por qualquer número a que uma contagem, mesmo que eterna, pudesse
chegar, ser sempre finito, só sendo identificável como infinita a lei da série,
o mesmo se passa com a pretensão de negar a impossibilidade concreta através de
uma definição abstrata. Vejamos. Se houver uma cadeia causal infinita no
passado, como seria possível ter chegado aqui? Visto ser infinita para trás,
por maior que fosse a sucessão causal percorrida, haveria sempre mais a
percorrer. Caso contrário, não seria infinita. Isto equivale a dizer que, se
supuséssemos uma regressão infinita das causas, este mundo aqui e agora nunca
poderia ter sequer chegado a existir. Como existe, não pode depender de uma
cadeia causal infinita. Uma definição de um conceito não altera nada quanto à sua
possibilidade efetiva, sobretudo se se tem de considerar como uma premissa
geral a efetiva existência do mundo observável.
Naturalmente,
o argumento não elimina o caráter paradoxal da antinomia entre finito e
infinito. Admitindo, por exemplo, o caráter infinito desse ser máximo, visto o
máximo não admitir qualquer limitação, haveria que pensar como poderia ser
causa do finito. Porventura, seria difícil sustentá-lo se não de forma
imaginária, fantástica, que deixaria boa parte por explicar racionalmente, ou
então teria que se admitir o finito como mera aparência desse mesmo infinito, o
que equivaleria ao panteísmo. Da mesma forma, se se não consegue conceber uma
cadeia infinita na origem deste mundo, agora, aqui, e se não se consegue
conceber uma limitação da ordem temporal, talvez se deva admitir que essa ordem
causal temporal só possa ser aparente, fenoménica e não numénica. Mas que essa
ordem numénica possa ser não causal, é algo que é, de facto, impensável. Porém,
a honestidade intelectual pode passar por reconhecer que algo é não somente
incognoscível, mas também impensável. Mas se é impensável, como pode ser
referido no pensamento a não ser como um flatus
vocis (ou voci, caso se prefira o
dativo)? Outra possibilidade que pode não parecer incompatível seria pensar que
o tempo do ser máximo é um eterno hoje e que a criação criou o próprio tempo
para a ordem mundana. Mas tal possibilidade volta a cair na falta de explicação
da própria criação do tempo e do mundo temporal. Dificilmente seria
sustentável, a não ser que o ser máximo fosse criador por essência, desde
sempre e para sempre. Mas isso implicaria uma coeternidade do mundo e não sei
se superaria a redução ao absurdo da série causal infinita, desta vez sob a
figura do tempo, e acabaria por requerer que a ordem temporal fosse meramente
aparente. A reflexão platónica postuladora de universais na base de toda a
realidade não altera o problema. Ao se afirmar que os sensíveis participam no
inteligível, estabelece-se um laço causal entre a realidade e a aparência.
Tanto assim é que o próprio Platão intenta imaginar essa relação no Timeu. Mas, tal como na possibilidade
divina, não se compreende porque é que a realidade eterna das Ideias produz os
reflexos distorcidos dos sensíveis. A figura demiúrgica só complica ainda mais
a explicação. Com certeza que se deve compreender o devir como uma conjugação
de ser e não ser relativamente a cada uma das coisas que, nele, aparecem, mas,
se se opuser devir e ser, a que propósito ocorre o devir, o que lhe dá origem?
Ou será antes o devir, no seu todo, a mais direta e cega manifestação do
próprio ser? Sem pretender fornecer agora uma resposta, espero que estas
questões mostrem como estão ligadas as questões da causalidade e da substância.
Intimamente
ligada a todas estas questões, até mais diretamente que a versão causal, é a
prova cosmológica modal. As coisas que vemos existirem podem existir, mas
também podem não existir. De facto, é impossível que existam sempre, ou seja,
necessariamente. Na verdade, já houve tempo em que qualquer delas não existiu e
poderia ter havido tempo em que nenhuma existisse. Nesse caso, se apenas
existissem coisas assim, nada existiria hoje, pois não poderia vir a existir a
partir do nada. Logo, para que seja possível a existência contingente, requer-se
o suporte da existência necessária. Uma existência necessária causada, porém,
estaria dependente de outra existência necessária (e aqui reproduz-se
exatamente o mesmo procedimento da versão causal – aliás, a ligação entre
necessário e contingente pode ser vista também como causal). Dito de outra
forma, tudo o que vemos existir, embora exista, poderia não existir, não tem em
si qualquer necessidade de existência. Porém, o nada não poderia existir. Logo,
parece ser necessária a existência. Porém, nenhuma das existências observáveis
é necessária. Logo, tem que existir uma existência necessária que para ter em
si mesmo a razão da sua existência, tem que ser sumamente perfeita. Outra forma,
mais leibniziana, de expor o argumento é a seguinte: tudo tem que ter uma razão
suficiente para ser assim em vez de outra forma e para existir em vez de não
existir. Nada do que observamos tem essa razão em si mesmo. Logo, tem de
existir algo que constitua a razão suficiente de todas as coisas, a sua causa,
a existência necessária que subjaz a e de que dependem todas as existências
contingentes. Como este argumento está intimamente ligado ao argumento central
deste artigo, deixarei a sua crítica para mais adiante.
É,
porém, o argumento ontológico que tem suscitado, desde Anselmo até hoje, as
discussões mais acaloradas. É sabido que foi rejeitado por muitos teístas (como
Aquino), para não falar de fideístas, agnósticos e ateus, visto estes também
rejeitarem os outros. Talvez este artigo possa trazer alguma novidade ao ser aceite
por um ateu. Quanto à sua rejeição, ainda hoje se refere a crítica de Gaunilo
como sendo procedente, o que mostra bem o deficit
de pensamento que por aí abunda. É inerente à noção de ilha a limitação. Logo,
não poderia ser equiparada à noção de um máximo de ser. Muitas das pessoas que
dão o aval à crítica seguem a tendência contemporânea de considerar apenas a
estrutura formal superficial das proposições, não tomando atenção à
interpretação conceptual. Uma ilha maior do que a qual nada pode ser pensado
existe na mente (isto é, no entendimento) quando se ouve falar de uma tal ilha?
Não, não existe, ou só existe sob a forma de sons sem significado, mesmo sendo
a noção formada por noções com significado, como no caso do círculo quadrado.
Podemos conceber um círculo, podemos conceber um quadrado, não conseguimos
conceber um círculo quadrado. Podemos dizer “círculo quadrado”, mas não há
qualquer significado que lhe possa ser atribuído. Leibniz viu bem que, porém,
este argumento grosseiro mostrava que era preciso estabelecer a própria
possibilidade da noção de Deus ou, o que talvez não seja a mesma coisa, daquilo
maior do que o qual nada pode ser pensado. A partir de Leibniz (embora a versão
hoje mais usualmente referida seja a de Gödel), a prova tem sido reforçada pelo
recurso à lógica modal. Leibniz considera que, para se poder asseverar que Deus
existe, é necessário estabelecer a sua possibilidade. De facto, há noções
impossíveis, por implicarem contradições insolúveis, como um círculo quadrado,
uma montanha sem encosta, uma ilha perfeita ou o pseudoparadoxo de Deus poder
criar uma pedra que não possa erguer. Logo, para se poder concluir a primeira
parte do argumento de Anselmo, é necessário provar a possibilidade da própria
noção de Deus. Se esta for provada, então segue-se que Deus existe
necessariamente pela segunda parte do argumento anselmiano. A noção de
possibilidade de Leibniz é estritamente lógica, exigindo apenas a consistência,
a sua não contradição. Leibniz considera que os predicados de Deus, sendo
simples e positivos, ou seja, não sendo decomponíveis em predicados mais
elementares e nada contendo de negativo, não podem entrar em contradição entre
si. Sendo pois a noção de Deus possível, a existência pertence-lhe
necessariamente, seguindo a prova anterior. A melhor objeção que
conheço a esta versão incide, exatamente, sobre esta noção de possibilidade. A
pedra referida há pouco era uma impossibilidade que não negava a omnipotência
porque a omnipotência só pode o possível. Mas, como escreve Domingos Faria, “se
Deus é omnipotente, então pode fazer tudo o que é logicamente possível; mas se
é sumamente bom, então Deus não pode fazer tudo o que é logicamente possível
(por exemplo, não pode pecar). Nesse raciocínio parece haver uma inconsistência
entre omnipotência e suma bondade, colocando em causa a fundamentação de
Leibniz.” Porém, o próprio Leibniz poderia responder que o que a suma bondade
impede é querer pecar; ora, não querer não significa não poder. É verdade que,
como Faria refere, se poderia afirmar aqui uma impossibilidade metafísica, mas,
exatamente, a noção de impossibilidade usada por Leibniz é a lógica e não a
metafísica.
É
habitual considerar que a mais demolidora objeção ao argumento é a de Kant. Kant
considera que a existência não é um verdadeiro predicado tal como o é uma
propriedade que pode caracterizar uma coisa (ou seja, “existente” não é uma
propriedade como “gordo”, “velho” ou “triste”). A existência não acrescenta
nada ao conceito de uma coisa. Pelo contrário, a existência é apenas a instanciação
de uma coisa, a constatação da ocorrência de algo que foi significado, não
havendo algo mais do que 200 euros no meu bolso pelo facto de eles existirem.
Os 200 euros pensados tinham exatamente o mesmo valor que os existentes. Neste
caso, a existência não é um predicado que se acrescenta ao conceito de um ser
maior do que o qual nada pode ser pensado. Não há diferença de propriedades
entre o conceito de um Deus existente e de um Deus não-existente. Ora, se a
existência não é um predicado, então um ser maximamente perfeito não é maior se
existir do que se não existir. Porém, Anselmo não pretende provar, em absoluto,
a existência. Uma das suas premissas, aceitável mesmo pelo bíblico insensato, é
a de que Deus existe na mente, na medida em que é entendida a sua definição,
aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado. O argumento pretende passar
de um atributo (ser mental) para outro atributo (ser real fora da mente). Ser
fantástico é um atributo dos unicórnios que, de facto, existe. Se se descobrisse
um unicórnio físico, por exemplo, no Monsanto, ele teria um atributo, ser
físico, que os unicórnios da ficção não teriam. Logo, não é verdade que o
argumento não estabeleça um predicado adicional. Assim, não existe, quanto a
mim, nenhuma objeção procedente ao argumento, a partir do momento em que se
aceita a definição. Porém, no Proslogion,
mais do que reduzir Deus à definição, defende-se, posteriormente, todos os
atributos tradicionais do Deus teísta.
Ora, se é o Deus teísta que está em questão na prova, a grande questão volta a
ser se se pode aceitar que esse Deus teísta seja o algo maior do que o qual
nada pode ser pensado. De facto, mesmo aceitando a possibilidade da ideia de
Deus seguindo a defesa de Leibniz, o que talvez também não possa ser correspondente
ao Deus teísta, ainda não está garantido que isso corresponda ao máximo de ser
da definição anselmiana.
Ora,
mesmo considerados como puro pensamento sem conhecimento, os argumentos
ontológico e cosmológico apenas parecem procurar estabelecer um máximo de ser,
uma existência necessária e uma causa sui
que se constituam como sustentação dos seres limitados, das existências
contingentes e das cadeias causais. Como Kant procurou mostrar, mesmo os
supostos argumentos cosmológicos acabam por não ser a posteriori, na medida em que têm de efetuar a passagem da
existência necessária para Deus, o que Kant afirma acabar por se reduzir ao
argumento ontológico.[1]
Porém,
no próprio argumento ontológico, existe um salto lógico, visto também se poder
questionar se um máximo de ser ou se um ser soberanamente real correspondem à
noção de Deus. Na verdade, parece-me que quer a noção de ser supremo, quer a de
existência necessária não passam de paráfrases do poema de Parménides, assentes
na inconcebilidade da existência do nada. Se o nada não pode existir, existe
sempre necessariamente alguma coisa. O nada só é referível de forma relativa,
por exemplo, quando quero dizer que não estou a agarrar nada sólido. O próprio
vácuo não pode corresponder a nada visto que, mesmo supondo nada lá existir de
material, tem dimensões suscetíveis, aliás, de serem medidas, ao passo que o
nada não pode ter quaisquer predicados.[2]
Se existe necessariamente alguma coisa e não vejo nada que exista senão
contingentemente, a necessidade da existência dever-se-á situar a um nível não
sensível. Da mesma forma, visto nada vir do nada e tudo ter de ter uma causa,
dada a impossibilidade de uma regressão causal infinita, seria necessário supor
uma causa primeira que só o poderia ser se fosse causa de si mesma ou, o que
vai dar no mesmo, não requeresse por natureza qualquer causa, o que só poderia
ocorrer se tal entidade fosse uma existência necessária. Isso mostra, aliás,
como as versões causal e modal do argumento ontológico se encontram
estreitamente associadas. A própria noção de um máximo de ser do argumento
ontológico pode ser vista como decorrente da impossibilidade do nada: a causa sui é causa sui por ser existência necessária, a existência necessária é
necessária por pertencer aos atributos do máximo de ser e este é máximo de ser
por se excluir qualquer possibilidade de nada. Neste contexto, porém, a questão
que me parece fulcral é, antes de toda a discussão do valor de tais argumentos,
o que é que tais noções de um máximo de ser ou de uma existência necessária têm
a ver com a noção de Deus.
Na
noção de Deus, está sempre presente a conceção de um indivíduo, por muito
infinito que seja considerado. Se já não se está a conceber um indivíduo, seria
melhor, como já disse, recorrer a outra palavra. Mais ainda, na personificação
que, de raiz, se encontra associada à noção de Deus, concebe-se um sujeito com
uma consciência, entendimento e vontade. Penso que a própria noção de um
sujeito e de um entendimento implicam necessariamente uma limitação incompatível
com a noção de um máximo necessário de ser. Porém, a conceção de uma vontade é
um caminho mais rápido para expressar a incompatibilidade aqui presente. Só se
pode querer alguma coisa, se se precisa disso nem que seja como capricho. A
vontade poderá ser a nossa faculdade de desejar quando submetida à deliberação
racional, mas, por muito racional que seja, não deixa de ser faculdade de
desejar. Que sentido tem um ser soberanamente perfeito desejar seja o que for,
ter desígnios e procurar realizar um projeto? Tradicionalmente, afirma-se que
Deus criou o mundo para manifestar a sua glória. Para que precisa um ser
soberanamente perfeito de manifestar a sua glória ou ser glorificado? E como é
que a criação de um mundo necessariamente menos perfeito do que ele poderia
adicionar alguma glória a um ser perfeito ou mesmo tão-só manifestar essa
glória eventualmente já pré-existente? Porque é que um ser perfeito não estaria
satisfeito com a perfeição absoluta que já tinha? Precisava de outra coisa para
quê? Criou por amor? Mas como poderia ele amar o que ainda não existia? E mesmo
podendo amar o que já imaginava, supondo que faz sentido um ser necessário e
perfeito se entregar a uma atividade tão limitada como imaginar, como se
precisasse de se entreter, porque se poria a amar o menos perfeito que ele
próprio? Estaria já a dar-nos um modelo do que deveríamos fazer, amar o mais
imperfeito, por exemplo, o puro mal? Ou aquilo que faz sentido para nós, amar o
que julgamos melhor, já não faz sentido para Deus que, aliás, seria infalível
no seu juízo? Toda a personificação presente na ideia de Deus é incompatível
com as noções que se pretendem provar nos argumentos ontológico e cosmológico:
ser soberanamente perfeito, existência necessária e causa sui. E ainda mais seria se se considerassem aspetos mais
específicos da conceção teísta, as revelações, as intervenções na história, a
Encarnação no cristianismo, o pecado original, etc.
Os
diversos argumentos teleológicos têm a vantagem de suporem claramente a noção
teísta de Deus e, como tal, não suscitarem a crítica antes feita à sua
incompatibilidade com as noções ontológicas genéricas dos outros argumentos. De
facto, não é contraditório pensar um ser muito poderoso que pudesse fabricar
este mundo segundo um desígnio insondável. Da mesma forma, também seria
possível ter sido fabricado por uma família ou raça de seres muito poderosos,
ou, como num jogo que em tempos joguei, este mundo ser um jogo com que se
entretinham seres de uma dimensão superior. Isto significa que um tal argumento,
mesmo que provasse um desígnio, não garantiria um Deus monoteísta (ao contrário
do máximo de ser, caso fosse compatível com a noção de Deus). Além disso, todos
os argumentos do desígnio se articulam da mesma forma: há uma ordem na orgânica
dos seres vivos, há uma ordem na gravitação universal, há uma ordem neste
universo em expansão; não sabemos qual a causa dessa ordem; logo, essa causa é
Deus. Parece-me desnecessário dizer que se trata de uma falácia de apelo à
ignorância. Para lá das causas poderem ser outros seres poderosos, também
poderiam ser determinações necessárias que apenas não conhecemos ou ainda não
conhecemos, assim, como no passado, quando o homem desconhecia os mecanismos
geradores das tempestades, atribuía a sua origem a deuses, à sua raiva ou à sua
providência, ou seja, a desígnios. Por outro lado, pode-se estar a ver
desígnios simplesmente por o homem tender a ordenar mentalmente qualquer caos,
tal como via no passado (e, para alguns, ainda no presente) uma ordem até
simbólica, tributária de um pensamento mágico, determinadora das mais ínfimas
ocorrências humanas, na disposição das estrelas em constelações que, hoje,
sabemos só aparentemente estarem próximas. Leibniz via na possibilidade de
fornecer uma ordem matemática a qualquer distribuição arbitrária de pontos uma
prova da harmonia pré-estabelecida, quando tal facto pode ser visto apenas como
demonstrativo da compulsão humana para encontrar uma ordem em qualquer caos. Ou
seja, os argumentos teleológicos aproveitam-se da nossa ignorância para tirar
conclusões, utilizando a estratégia exatamente inversa à que o teísmo usa ao
lidar com o problema do mal.
A
objeção do mal atinge o teísmo exatamente por este estipular um desígnio no
universo que, eventualmente entre outras finalidades, prossegue uma finalidade
moral. De facto, as religiões monoteístas prometem uma justiça além para os
abusos aquém, considerando que Deus é um ser bom que redime cada qual que o
mereça das provações por que passa nesta vida, castigando todo o mal renitente.
Porém, o juiz e algoz é também o criador dos acusados e condenados. Além disso,
é considerado omnipotente. Logo, esta objeção parece criar um paradoxo. Tal
paradoxo parece, desde a versão original atribuída a Epicuro, demonstrar uma
contradição insanável entre bondade e omnipotência (em versões posteriores,
juntando-lhe a omnisciência), dada a realidade do mal. Ora, frente ao mal
natural, o filósofo teísta (e não apenas Leibniz que, aliás, pouco o distinguia
do moral) segue um caminho exatamente inverso a e contraditório com o que segue
ao defender o argumento do desígnio. Neste último, perante uma qualquer
orgânica de que desconhece a causa, pretende deduzir um artífice. Ao contrário,
perante os mais avassaladores desastres, defende que não é possível avaliar
como tais desastres se encaixam no conjunto de uma obra de tal grandiosidade,
assim como não se avalia uma sinfonia por uma pausa ou uma pintura pelas
manchas em que a pintura se transforma se nos aproximamos em demasia da mesma. À
perfeição de uma figura geométrica como a do quadrado é inerente a imperfeição
da incomensurabilidade da diagonal. Faria sentido, pergunta Leibniz, exigir à
omnipotência divina que fizesse quadrados perfeitos sem a irracionalidade da
diagonal? Ora, é isso que se exige quando se exige que a omnipotência divina
criasse um mundo sem mal natural, o que seria tão absurdo como exigir que
criasse música sem silêncios ou pintura sem sombras. Ora, o mesmo argumento sustentado
nas nossas limitações serviria para rejeitar a pretensão em ver um desígnio em
qualquer pormenor da natureza, visto não estarmos em condições de avaliar
aquilo de que ignoramos o contexto mais geral.[3] Claro
que as nossas limitações cognitivas refutam as pretensões epicuristas de
demonstração da inconsistência conceptual de Deus, o que era o objetivo
leibniziano e não o de demonstrar a existência de Deus – mas o mesmo argumento
lança sérias dúvidas sobre uma das suas vias de demonstração dessa existência
que supõe uma harmonia que só poderia ter por autor Deus. Além disso, Voltaire
caricaturou muito bem o caráter vazio do argumento do melhor mundo possível
inerente à criação por um ser maximamente perfeito. No Cândido, escrito exatamente na sequência do terramoto de Lisboa, em
1758, Voltaire imagina todo um imenso conjunto de circunstâncias extremamente
negativas, sempre explicadas como pertencentes ao melhor mundo possível à
maneira de Leibniz. De facto, o argumento de Leibniz permitiria considerar o
mundo o melhor possível mesmo que se tivesse vivido toda a vida no próprio
Inferno. Sendo assim, a própria afirmação do melhor mundo possível revela-se
vazia e estéril, pois poderia ser feita no pior mundo possível. Da mesma forma,
um argumento similar ao do fine-tuning
levava Schopenhauer a tirar a conclusão exatamente inversa à leibniziana:
vivemos no pior mundo possível, pois o mais ínfimo desvio às condições pelas
quais este mundo existe faria com que este já não fosse possível. Ou seja, este
seria o pior mundo que ainda consegue existir.
Quanto
ao mal moral, considera-se tradicionalmente que advém de um poder excecional
dado a um conjunto de criaturas, homens e porventura anjos, para desempenharem
um papel superior na criação, onde, aliás, parece se jogar o desígnio
fundamental da mesma, o livre-arbítrio. Por muitos desenvolvimentos que tenha
tido posteriormente, considero, aliás, que o puro libertismo nasceu desta
necessidade de absolver o divino e culpar o homem do mal. Mesmo numa versão
compatibilista como a do mito de Er, já existia a preocupação de isentar o
divino de qualquer culpa.[4]
Sumariando a tese teísta e esperando não produzir um espantalho, Deus que é
sumamente bom decidiu criar um mundo necessariamente mais imperfeito que ele,
onde permitiu o mal na medida em que isso contribuía para realizar o melhor
desígnio mundano possível. Nesse desígnio, figura em plano de destaque o homem,
visto ser dotado de um poder miraculoso de escolher a sua ação
independentemente da determinação natural. A permissão do mal resultaria
inevitavelmente desse dom, não se podendo falar verdadeiramente de
livre-arbítrio se não existir a possibilidade de escolha entre o ser – o bem –
a liberdade divinos, e a aniquilação – o mal – o encarceramento pecaminosos. O
objetivo seria, no final, eleger os justos nas suas escolhas para um futuro de
eterna bem-aventurança onde não haveria lugar para o pecado e condenar os
perversos a um sofrimento igualmente eterno, resultante da sua perseverança no
pecado. Ou seja, apesar de, supostamente, ser um dom superior a existência de
livre escolha entre o mal e o bem, afinal o objetivo é uma forma superior de
vida onde, como em Deus, não se pode escolher o mal. Se assim é, para que
decidiu Deus criar, primeiro, a forma de vida inferior (que antes se
justificava como superior)? Para avaliar o mérito das suas criaturas ou, visto
Deus possuir presciência e já saber qual irá ser o seu valor, para manifestarem
o seu mérito pelas suas ações. Porém, Deus criou tais criaturas do nada, ou
seja, de si próprio. É claro que se pode imaginar facilmente um poeta que vai
produzindo diversos poemas e elegendo os melhores de entre eles. Porém, é isso
concebível num ser soberanamente perfeito? Que vá produzindo criaturas
defeituosas, que sabe defeituosas e que, visto possuir presciência, predestina
logo na sua criação a uma condenação eterna por pecados, afinal, necessariamente,
limitados? E que, por méritos limitados, conceda a graça da eleição final para
uma felicidade eterna logo na sua criação? Os teístas, mais cedo ou mais tarde,
remetem sempre as explicações para as limitações do nosso entendimento. Porém, não
é muito mais sinal das conceções antropomórficas este Deus arbitrário que cria
este espetáculo da perdição e da salvação para manifestar a sua glória, sem que
se perceba o sentido de um ser perfeito criar algo mais imperfeito e isso o
glorificar, um ser bom criar um ser capaz do mal que já sabe que praticará esse
mal e que castigará por praticar esse mal a que ele o predestinou, e um ser
justo castigar e premiar ações finitas com punições e prémios infinitos? As
noções do teísmo que, supostamente, procura conciliar fé e razão, só parecem
racionais se não forem analisadas até o fim. Inevitavelmente, acaba por cair nos
mais diversos absurdos e, aí, recorre aos mistérios divinos para fugir de
objeções, tanto quanto ocorria na era da razão preguiçosa, na Alta Idade Média.
Humano,
demasiado humano é este Deus e não necessariamente naquilo que o humano tem de
melhor. Nele se concentrou todo o desejo de proteção e todo o ressentimento
contra os abusos mundanos. Para isso, lhe foi concedida a omnipotência e a
preocupação com a justiça. Porém, sendo a sua raiz o ressentimento e não a
simples razão, não houve grande preocupação em tornar consistente tal ser
superior. Que a raiz seja o ressentimento, é algo que se evidencia pelo caráter
eterno das penas e prémios. Do ponto de vista da justiça, trata-se de uma
ofensa básica ao princípio da proporcionalidade entre a pena e o crime (ou
entre o mérito e o prémio), mas, do ponto de vista do ressentimento, é a
vingança ideal. Quanto a todos os absurdos aqui descritos e muitos outros que
poderiam ser referidos, Deus não foi concebido para responder a problemas
filosóficos, mas sim para trazer conforto e uma satisfação mental pela redenção
anunciada para quem assim o imaginava. E em nada se evidencia mais este caráter
irracional que na exigência de fé, considerada sempre como uma condição
necessária para a salvação, chegando ao ponto de ser, em certas confissões, a
condição humana única, à qual se junta eventualmente a condição divina da
graça. Quem exige, entre os humanos, uma crença cega em si e nisso vê mérito
por vezes exclusivo são os tiranos de todos os tipos. Da mesma forma, só um
ditador considera que duvidar já é um pecado, quando não o princípio do pior
dos pecados, o da apostasia. E tal como o déspota, só se exige tal fé, se se
quiser eximir a qualquer escrutínio. Ora, um déspota vingativo que criou o
mundo para se vangloriar e para castigar e premiar as suas criações que já
sabia o que fariam, destinando-as, aliás, a fazê-lo, é uma noção absolutamente
incompatível com um ser soberanamente perfeito. Como tal, uma noção que una as
duas conceções é um absurdo lógico, um círculo quadrado, não podendo, como tal,
existir em qualquer mundo possível. Pascal aposta num círculo quadrado e, por
isso, não tem qualquer possibilidade de ganhar. Melhor seria apostar no bule de
Russell ou na Grande Abóbora de Charlie Brown, se trouxessem alguma vantagem,
como o pote de ouro dos duendes. Mas ainda melhor seria não decidir a sua vida
e as suas convicções pelo medo do desconhecido (como ao se preferir usar um
amuleto apenas para o caso de a realidade ser absurda e as superstições
corresponderem à realidade), o que acaba por ser apenas uma manifestação de
irracionalidade e, por isso, uma antítese da filosofia.
[1] Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Riga,
Hartknoch, 1781, 2ª ed., 1787; trad. port. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, Crítica da Razão Pura, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 19858,
pp. 509-510.
E, na verdade, mesmo o fundamento de uma experiência em geral não parte de
qualquer experiência em particular, apoiando-se em simples conceitos puros, ibidem, p. 514.
[2] Daí Newton não só ter
considerado o espaço como absoluto, mas, inicialmente, como um atributo
imaterial e, mais tarde, como o modo de um atributo da própria divindade, pois
o espaço mesmo vazio não só não seria um nada, muito embora fosse imaterial,
como mostrava a impossibilidade da sua divisão material. Os relativistas, como
Leibniz, não podiam ser senão plenistas porque, se não o fossem, isso
significaria dar ao espaço um estatuto ontológico, isto apesar de Leibniz
acabar por reconhecer ao menos a possibilidade ideal (geométrica) do vazio.
[3] Apesar de elogiar um artigo de Desidério
Murcho de 2019, critiquei a sua conclusão (2020) nos seguintes termos: “Bom
artigo que desliza no final para um argumento de todo improcedente, claramente
motivado pela crença do autor que facilmente poderia ver que, em todo o
conhecimento, é mais fácil verificar que algo existe do que descobrir aquilo
que esse algo é ou as características de todos complexos (neste caso,
infinitamente complexos). Eu verifico a existência do mundo e estou longe de o
poder compreender em toda a sua complexidade espacial e temporal. Um homem das
cavernas verificava a existência do fogo e podia nem sequer ainda saber usá-lo,
quanto mais produzi-lo ou saber o que era. Eu posso ser capaz de demonstrar a
existência de Deus e ser incapaz de penetrar na complexidade dos seus desígnios
ou no destino preciso de cada pormenor da sua criação. Uma incapacidade não
implica de todo a outra. Non sequitur.”
Pode parecer que entro em contradição neste artigo. Mas não. O que Murcho
equipara às limitações cognitivas referidas por Leibniz é a nossa capacidade de
saber se Deus existe ou não, em geral. O que eu equiparo é a pretensão de
inferir uma harmonia universal e eterna a partir da nossa consideração de
ordenações no mundo inevitavelmente limitadas, o que é característico dos
argumentos teleológicos e só destes – e, porventura, até menos de Leibniz. Isto
porque Leibniz poderia pretender que essa via não era estabelecida
analogicamente, mas por ser impossível explicar de outra forma, por exemplo, a
comunicação entre o corpo e a alma ou a conservação universal da quantidade da
força (eventual antepassado da mais recente noção de energia, como admito no
meu trabalho sobre Leibniz e Clarke), o que, porém, pode ser visto como uma
transformação da fraqueza da insustentabilidade do dualismo cartesiano em força
e dos pressupostos cosmológicos em provas. Reconheço, porém, que a apreciação
de um sistema em que todos os elementos conspiram uns com os outros, torna
difícil decidir a ordem demonstrativa de forma linear. De qualquer forma, como
muitos autores da época, Leibniz não rejeitava de todo a possibilidade de
demonstrações analógicas, como ocorre no salto da vida verificável pelo
microscópio para a presunção que o mesmo ocorreria sempre progredindo para o
infinitamente pequeno. Noutros casos, porém, como o dos indiscerníveis, ele
apenas exemplifica empiricamente o que já tinha concluído especulativamente,
apesar de também aí se poder detetar um pensamento simultaneamente lógico, metafísico,
analógico e indutivo: “C’est tout comme ici”.
[4]
Platão, ed. J. Burnet, Platonis Opera,
T. IV, Oxonii e typographeo Clarendoniano, 1949; tr. port. Maria Helena da
Rocha Pereira, A República, 11ª ed.,
Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian, 200810, p. 490, 617 e..