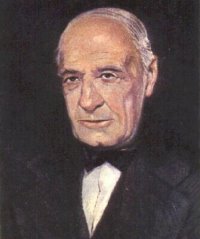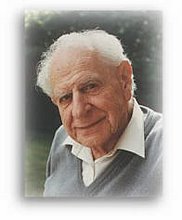Discordo, totalmente, da tendência de muitos escritores,
entre os quais alguns que particularmente muito aprecio como Marcuse, a
considerar como escravatura o trabalho assalariado. Julgando estar a sublinhar
o caráter opressivo dessa relação produtiva, anulam na verdade a sua
compreensão específica até naquilo que tem de mais desumano. Poderá ser bom
para a expressividade poética, mas é péssimo para a compreensão da realidade.
Considerada de forma abstrata, pode-se dizer que, na escravatura, é do interesse
do dono preservar a sua propriedade. Causar-lhe dano, deixá-lo esfomeado,
permitir que ele adoeça com uma doença evitável ou que não seja tratado,
deixá-lo, sem vestuário ou habitação, exposto aos elementos, tudo isso é algo
que não é do interesse do dono que aconteça ao escravo porque são formas de
destruir ou desvalorizar a sua propriedade, para lá de diminuir a sua
capacidade de produção. Pelo contrário, o trabalhador assalariado vende um
serviço, o seu trabalho, e o patrão não precisa de se preocupar com a sua
saúde, a sua alimentação, o seu vestuário ou a sua habitação. Especialmente em
situações de miséria das classes baixas, desde a revolução industrial, há
sempre uma explosão demográfica que permite encontrar sempre nova mão-de-obra.
Assim, como em qualquer mercado, o patrão tenta, como qualquer cliente, pagar o
menos possível pela mercadoria, neste caso, o serviço que é o trabalho. Para
não ter quaisquer responsabilidades, de preferência até paga à jorna. Ou seja,
ao contrário da imagem burguesa de Hollywood, a pior situação laboral não é a
do escravo, também não é a do servo da gleba, mas sim a do trabalhador
assalariado quando não é objeto de qualquer proteção.
Tudo isto vem a propósito do papel dos sindicatos e do
direito à greve. De facto, se se percorre a primeira metade do séc. XIX e, em
certas paragens, até bem mais tarde, percebe-se que, enquanto o movimento
sindical não teve suficiente força, os trabalhadores industriais estiveram
sujeitos à pior das explorações da história: horário de trabalho indeterminado,
só limitado pelas condições ambientais ou orgânicas, trabalho infantil,
castigos físicos especialmente, mas não só, aplicados às crianças, falta de
condições de higiene e de segurança, as doenças e deficiências causadas pelo
trabalho que apenas levavam ao despedimento, total ausência de folgas ou férias
que não fossem o desemprego, etc. Aliás, os embriões de sindicalismo começaram
por associações de previdência, tentando os próprios trabalhadores socorrer
quem se via incapacitado de alguma forma. A primeira legislação laboral só
surge em Inglaterra em 1830 (já a Inglaterra tinha entrado na revolução
industrial há mais de 60 anos) para limitar o trabalho infantil quer na idade
(9 anos) quer no horário de trabalho (12 horas), isto apenas no setor
algodoeiro e, mesmo assim, pouco foi aplicada. As instituições estatais,
governos, forças de segurança, tribunais eram defensoras, em primeiro lugar, do
direito de propriedade dos meios de produção através do qual se poderia exercer
livremente a exploração visto os trabalhadores aceitarem (que remédio...) a
relação assalariada. O caminho para o reconhecimento legal dos sindicatos, para
um muito lento e gradual reconhecimento de direitos dos trabalhadores até ao
reconhecimento do direito à greve, foi um caminho muito árduo, muito amargo,
muito tortuoso, cheio de cadáveres e de estropiados, cheio de miséria e de
opressão, para que possa ser ignorado pelos jovens turcos dos setores mais
liberais. Aliás, o facto de se ter desviado em boa parte para movimentos
revolucionários resultou da frustração de não ver os mais elementares direitos
reconhecidos e de justas reivindicações serem respondidas com duras repressões.
Mesmo depois de cerca de metade do mundo ter passado por movimentos
revolucionários socialistas ou progressistas (para utilizar a linguagem já
clássica) e só não ter atingido a outra metade porque o medo da revolução levou
o capitalismo a abrir os cordões da bolsa, permitindo a criação de fortes
classes médias, haver ainda quem considere que as questões laborais são questões
políticas de menor importância é algo que entraria no domínio do anedótico, não
fosse a seriedade que está a atingir.
Não é por acaso que um dos primeiros objetivos da
mentalidade técnica que tem orientado as sucessivas reformas na educação é o de
diminuir ou até, se possível, eliminar a formação histórica. E não estou apenas
a falar da disciplina de História ou do desejado fim das disciplinas. Em
Filosofia, por exemplo, passou a ser proibido ensinar qualquer pensamento
político que não o de alguns autores norte-americanos da 2ª metade do séc. XX.
Todas as reformas a que assisti, desde a reforma de Roberto Carneiro, tiveram
sempre este desígnio. Com a eliminação da consciência histórica, cada ideologia
pode impor as suas perspetivas como se fossem naturais, qualquer coisa
eternamente óbvia, aceitável por si como aceitamos as palavras da nossa língua.
Assim, os jovens poderão não perceber que quando os empregam como colaboradores
lhes estão a sonegar a dignidade conquistada historicamente para o trabalho e o
trabalhador. Qualquer empresário que use a palavra “colaborador” coloca-se
imediatamente num campo ideológico extremamente reacionário onde perpassa o
desejo de regressar às condições da relação produtiva do início do séc. XIX. Assim,
sem argumentos, transmite-se imediatamente a ideia de que a produção das
empresas é dos proprietários, resultado da ação dos gestores e que os
trabalhadores apenas estão ali a colaborar, vendendo a sua prestação de
serviços. A mesma vontade de eliminar a consciência histórica se nota do lado
da esquerda quando tenta passar o atual discurso dos géneros (e não sexos) e
das identidades como se fosse algo concebido desde todo o sempre e uma antiga luta
dos direitos humanos. Com esse objetivo, se banem livros para que as novas
crianças não tenham possibilidade de contactar com o passado da sua própria
cultura e, se não houver oposição, a proibição de livros e de exibições virá a ser
bem mais extensa. Para tornar clara a minha posição, devo dizer que sempre
considerei muitos dos contos infantis repugnantes e absurdos, apenas com
interesse psicanalítico, mas isso nunca me levaria a exigir que fossem banidos.
Além disso, muitos dos mais absurdos como o Pinóquio não terão sido banidos das
bibliotecas por não envolverem questões de género. Assim, da esquerda e da
direita, há um esforço, na minha opinião só possível na mentalidade técnica, para
banir a consciência histórica e introduzir as suas definições ideológicas como
se fossem intemporais e indiscutíveis, sempre com objetivos autocráticos
dissimulados.
A greve tornou-se um direito consagrado na nossa
constituição por ter sido historicamente o instrumento pelo qual se conseguiu
equilibrar as relações produtivas e assegurar uma maior justiça laboral. Sem
este fundamento histórico, a greve é, na maioria dos casos, uma quebra
contratual que justificaria legitimamente o despedimento. Só não digo “em todos
os casos” visto existirem casos que são causados por quebras contratuais
anteriores dos patrões. A alternativa à greve regulada que temos, quando a
exploração se torna insustentável, é a revolução. Aliás, no tempo em que o
direito à greve não estava consagrado, não só as greves eram associadas a
violência e a morte, mas levavam, muitas vezes, ao extremar dos movimentos dos
trabalhadores até os tornar, se já não o eram, revolucionários. Todas estas
considerações vêm a propósito de declarações recentes de Daniel Oliveira, aliás
meros lugares comuns da esquerda, da distinção entre o sindicalismo solidário
tradicional e este pós-sindicalismo corporativista evidenciado na greve dos
camionistas de matérias perigosas. Daniel Oliveira contrapunha ao sindicalismo
solidário de classe o sindicalismo de maquinistas, de pilotos de aviação e
destes camionistas. Mas a solidariedade do restante sindicalismo há muito que
se tornou um mito e só existe nas cabeças dos ideólogos da esquerda.
Penso que passados 30 anos poderei relatar alguns
pormenores de uma experiência minha, comum a muita gente em muitos setores. Fui,
há mais de 30 anos, bagageiro no aeroporto de Lisboa. Era subcontratado por uma
empresa de que nem me lembro o nome e com a qual só contactei umas duas ou três
vezes. Na verdade, usava fardas da TAP, estava integrado no trabalho da TAP,
tinha superiores da TAP e era em tudo um trabalhador da TAP, exceto nos
vencimentos e regalias. Ora, existiam também bagageiros da própria TAP.
Passavam os dias encostados à parede, sem fazer literalmente nada enquanto não
viesse um deficiente ou outro incapacitado para tirar dos aviões, com o
objetivo de receber as gorjetas, ou enquanto não surgisse um passageiro que
precisasse de passar bagagem a mais pelo check
in. Repentinamente, lá apareciam eles atrás das balanças e à frente do
tapete rolante para logo desaparecerem em seguida. Não sei quanto ganhariam a
mais que os subcontratados, três, quatro, cinco vezes mais, isto sem contar com
inúmeras regalias, entre as quais viagens grátis que tive a oportunidade de
testemunhar. Mesmo assim, não perdiam uma oportunidade para trabalhar o menos
possível e sacar o mais possível. Portavam-se como um gangue mafioso que não
admitia concorrência. Quando dois dos colegas subcontratados resolveram imitar
os contratados a passar bagagem excessiva, um deles porventura o mais
trabalhador do nosso grupo, foram imediatamente denunciados pelos “camaradas”
contratados e imediatamente despedidos. Para nós, não existia sindicato. O
sindicato defendia os seus trabalhadores, os contratados da TAP. Presumo que
nos viam senão como infra-humanos, pelo menos como infra-trabalhadores. Para a
empresa, desconfio que os contratados eram vistos como prejuízos fixos com os
quais tinham de arcar e que eram compensados pelos bem mais baixos salários
pagos à empresa subcontratada, dos quais receberíamos cerca de metade, se tanto.
Talvez não com uma atitude tão acintosa, vi o mesmo menosprezo, durante muito
tempo, nos sindicatos dos professores pelos trabalhadores precários. A atitude
pareceu mudar mais recentemente, mas os meus colegas contratados negam o que acabei
de dizer.
O mesmo desprezo pela população trabalhadora vejo nas
sucessivas paralisações que não provocam qualquer dano à entidade patronal, mas
sim exatamente à população trabalhadora. Há a expetativa que os cidadãos, se a
luta tiver de durar, acabem por pressionar os políticos a pressionar os conselhos
de administração ou que os conselhos de administração cedam antes disso, muito
embora estejam a ser financeiramente beneficiados com a greve. A população
trabalhadora, porém, vê-se muito prejudicada, até chegar a perder o seu emprego
precário, olhando para aqueles que considera privilegiados como o verdadeiro
inimigo, em vez dos patrões ou do Estado. Ora, Daniel Oliveira considera este
dano um dano necessário para benefício do bom sindicalismo. Não parece ver que
é isto que leva a que se vá avolumando, ao longo das décadas, a oposição ao
sindicalismo. Mas não só. Passando para o caso dos professores, quando um
trabalhador sindicalizado é objeto de um procedimento ilegal, a não ser que
tenha grandes cunhas, escusa de ter esperanças que o sindicato o defenda. Não
só eu mas muitos colegas o relatam. O procedimento é sempre ou o de
procedimentos dilatórios até à desistência, mesmo que os professores assumam as
custas judiciais, ou o da pura ausência de resposta. Por isso, ao fim de quase 30 anos de sindicalização, desfiliei-me há cerca de dois meses. Para que
servem então os sindicatos se não servem para defender os associados? Os
pagamentos dos associados vão para onde? Os dirigentes não precisam deles
porque continuam a ser pagos pelo Estado. Os escassos funcionários pouco
custam. Ações judiciais só para alguns eleitos. Procedimentos administrativos
não têm grandes custos.
É
um segredo de Polichinelo. Vejam-se os recursos usados em sucessivas
manifestações e outras atividades sindicais, autocarros, instalações sonoras ao
longo de avenidas inteiras, etc, etc. E qual é a vantagem das mesmas para os
trabalhadores? Nenhuma. Greves e manifestações seguem o ritmo da conveniência
do calendário partidário. São ações para aparecerem nos telejornais. Quando já
não convêm, assinam-se memorandos que são verdadeiras capitulações, mas que
mais tarde os sindicatos dizem que foram desrespeitados sem que ninguém
intelectualmente honesto veja onde. Antes, mesmo havendo razões para a luta
durante anos, nada se faz, mas, assim que se aproximam as eleições, os partidos
utilizam dissimuladamente a sua tropa fandanga para prejudicar o partido do
governo. Se os trabalhadores não respeitam os condicionamentos sindicais e
desatam a agir inorganicamente como aconteceu durante o ministério de Maria de
Lurdes Rodrigues, os sindicatos vão a correr tentar controlar os movimentos
informais e, logo a seguir, depois de controlados, assinam um memorando em que
os traem. Recentemente, algo semelhante aconteceu com o STOP, mas aí,
parece-me, sob controlo de outro partido. Assim, o alegado sindicalismo
solidário de Daniel Oliveira resume-se a isto, a atuação a mando dissimulado de
estratégias partidárias. De resto, estão-se positivamente a borrifar para a
solidariedade dos trabalhadores, por exemplo, com os trabalhadores precários,
apenas disfarçando o facto com declarações genéricas edificantes de dirigentes
sindicais e partidários. E uma grande parte dos trabalhadores sente isso e
afasta-se cada vez mais do sindicalismo. Por exemplo, costuma-se dizer que os
sindicatos dos professores são muito fortes. Já nem falando dos micro-sindicatos
que beneficiam de todas as regalias apesar de quase só representarem os
dirigentes, qual é a percentagem de professores associada das duas grandes
federações sindicais? Faz-se questão de ocultar estes números, provavelmente
para não terem de os aldrabar como acontece noutros casos, mas ficaria muito
surpreendido se ultrapassasse os 20% dos professores. Logo, quando o governo
ouve os sindicatos, tem a certeza de estar a ouvir os representantes dos
trabalhadores? Ou é mais um caso da vanguarda de classe?
Regressando
à precariedade, reconheço que este governo ou o conjunto da gerigonça foram os
únicos que fizeram alguma coisa, parece-me, para diminuir a precariedade
laboral de há muitas décadas para cá. O facto de estar a criticar os sindicatos
por realizarem política partidária encapotada, não significa que considere tudo
o que sai dos partidos mau, muito embora considere que o grau de predomínio
desses partidos na vida política e social é intrinsecamente negativo,
asfixiando a participação dos cidadãos e atraindo para os partidos os
interessados em carreiras fáceis ou outras cunhas e privilégios. Daniel
Oliveira contrapunha o sindicalismo de nichos profissionais, corporativo, ao
sindicalismo de classe solidário. É isso que estou a contestar. Esse
sindicalismo (não sei bem de que classe) só é solidário dos interesses
partidários e, por vezes, até só de fações dentro dos partidos. Em vez de
defender os seus associados, esse sindicalismo concentra os seus recursos em
ações de luta que, muitas vezes, não trazem qualquer vantagem aos trabalhadores,
mas servem apenas interesses da política partidária. Quando trazem vantagens
aos trabalhadores, não deixam de estar articulados partidariamente e só não são
indiferentes aos danos que causam a um grande número de trabalhadores porque
utilizam esse dano como forma de pressão junto do governo, muitas vezes, embora
nem sempre, em prol de carreiras já largamente privilegiadas. E as pessoas têm
noção de tudo isto e afastam-se cada vez mais de tal sindicalismo, não apenas pela
atuação malévola (segundo Oliveira) de um sindicalismo de nicho, mas por não se
reconhecerem minimamente representadas no sindicalismo tradicional. Ora, este
enfraquecimento do sindicalismo tem, por toda a parte, não em especial neste
país, permitido uma situação cada vez mais frágil do trabalhador na relação
laboral, enquanto meia dúzia de classes profissionais muito ligadas ao Estado
se enquistam nos direitos adquiridos e permitem que ao seu lado se desenvolvam
novas relações laborais sem direito a nada. Não é o sindicalismo de nicho que
leva a isto, é o sindicalismo alegadamente solidário de Daniel Oliveira. De
qualquer forma, mais tarde ou mais cedo, os abusos de ambos irão levar a que se
ponha em causa o direito à greve e talvez aí se descubra que o séc. XIX não
está assim tão longe.