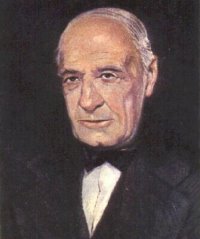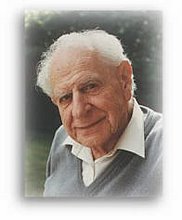Vamos por partes que o nevoeiro lançado pela propaganda
para-educativa é tão grande que dificilmente se pode chegar a algum lado com
uma abordagem global.
Primeiro,
porque é que os testes escritos têm sido o instrumento de avaliação
privilegiado? Porque permitem o controlo de quem o faz e de como é feito, ou
seja, destinam-se a evitar aldrabices, como ocorrem nos trabalhos feitos pelos
alunos fora das aulas, estando os alunos tão deseducados a este nível (pela
escola) que nem têm consciência que plágio é crime. Imediatamente, a este
propósito há professores que afirmam logo que os testes não garantem nada
porque eles copiam e ainda há os que dizem que não são polícias. Pois, é claro
que, se não cumprem o trabalho de vigilância, não se pode esperar resultados do
que não existe. Um teste escrito é um instrumento de avaliação e de vigilância
das condições em que aquela é levada a cabo. Se os professores não vigiam
devidamente, não estão a cumprir a sua obrigação, tornam-se agentes de injustiça
e, nesse caso, seria melhor que nem fizessem testes.
Segundo, quando se afirma que o que importa é aprender e
não fazer testes, há que perguntar, se se aprendeu, porque é que isso não pode
ser revelado num teste escrito ou oral e se considera que são mais adequados instrumentos
de avaliação que permitem mais facilmente a fraude? Será que se tem medo do que
os testes possam revelar?
Terceiro, é absurdo fornecer receitas comuns para os doze
anos de escolaridade. Mesmo o velhinho Platão defendia uma aprendizagem
exclusivamente lúdica nos estágios iniciais, evoluindo muito gradualmente, ao
longo dos anos, para uma aprendizagem mais rigorosa, formal e abstrata. Tal
evolução corresponde, igualmente, ao desenvolvimento das estruturas cognitivas
analisado no construtivismo de Piaget.
Quarto, os exames que têm existido no secundário
favorecem o adestramento. De facto, a sua rigidez permite que existam bons
resultados com métodos idênticos aos usados em animais para eles fazerem
habilidades, podendo ser condicionados para executar gestos e aparentes
comportamentos que, verdadeiramente, não correspondem a uma real aprendizagem. Um
animal pode ser treinado para responder a perguntas estereotipadas com sons ou
carregando em botões, sendo recompensado pelos simples desempenhos mecânicos,
sem isso corresponder a qualquer compreensão. Daí que não sejam de admirar as
conclusões de um estudo da Universidade do Porto que concluiu que os alunos
provenientes das escolas privadas, após o melhor desempenho nos exames para que
foram adestrados, acabavam por ter piores resultados que os alunos provenientes
das escolas públicas no prosseguimento dos estudos. Por muito que as escolas
públicas tivessem imitado alguns procedimentos das privadas, nunca puseram
completamente de parte os objetivos formativos mais globais. Pelo contrário,
alunos que foram intensivamente adestrados para os exames perderam três anos de
uma formação mais real, mais global e mais útil para o desenvolvimento dos
estudos superiores. Mesmo o facto de os alunos das privadas serem de um nível
médio socioeconómico superior ao dos das públicas não impediu a maior
dificuldade de adaptação à versatilidade das exigências do ensino superior.
Quinto, mesmo que os exames se tornem menos rígidos, que
não seja possível um adestramento tão estrito, que permitam avaliar
conhecimentos e não a habituação aos procedimentos até aqui seguidos, não
deixarão de ser exames, ou seja, provas escritas (ou orais, em certos casos)
presenciais e submetidas a rigorosa vigilância. Determinados entusiastas da
atual reforma (apesar de só não ser idêntica a outras antigas devido à muito
pior implementação) ficam muitos satisfeitos com a perspetiva de se vir a
separar completamente a avaliação do ensino secundário do acesso ao ensino
superior. Como também já antes aconteceu, as provas de acesso poderão vir a ser
feitas ou avaliadas nos estabelecimentos de ensino superior. Isso nunca
alterará o facto de o sucesso desse acesso ser decidido pelo percurso anterior
do aluno.
Sexto, pelo motivo acabado de referir, pretender
assegurar, antes de mais, a felicidade dos nossos alunos do ensino público secundário
sem nos preocuparmos com o seu futuro é socialmente criminoso. A estas objeções,
os representantes da confissão a que chamam ciências da educação respondem
(pelo menos, em todos os casos que ouvi até hoje) com referências genéricas do
estilo: “há lá fora estudos que mostram que os resultados não se alteram, mas
ainda nenhum aqui foi feito” ou “os resultados desta ou daquela experiência
situam-se na média nacional”. Qualquer pessoa que tenha trabalho nesta área
sabe que isto são declarações absurdas. Tratar um assunto tão decisivo para as
aspirações de vida dos nossos alunos com esta ligeireza revela intenções
ideológicas que recusam qualquer refutação pelos factos. Aliás, é sabido que só
se fazem declarações vagas deste género para ganhar conversas ou discussões,
não para fazer verdadeiro trabalho científico. Por outro lado, dizer que está
na média não quer dizer nada: pode ser muito bom no Vale da Amoreira e péssimo
no Restelo. Depois, se os entusiastas provenientes dos círculos superiores dos
estudos sobre a educação não cessam de utilizar como exemplo experiências como
os da Escola da Ponte, porque é que, ao longo de todas estas décadas, ainda não
fizeram um estudo rigoroso, quantificado, alicerçado em algo mais que retórica,
sobre os resultados posteriores dos seus alunos, quer no ensino superior, quer
na sociedade? Estes assuntos arrastam-se há tantas décadas que o facto de não
se apresentarem estes estudos só pode significar uma de duas coisas: ou têm
medo de os fazer porque já sabem quais serão os resultados (a não ser que os
aldrabassem com retórica); ou já os fizeram e estão a ocultá-los de forma a não
prejudicarem os seus desígnios ideológicos.
Sétimo, ninguém aprende a nadar andando de bicicleta,
ninguém aprende a interpretar um texto fazendo colagens da internet, ninguém
aprende a fazer contas copiando o que o barra da turma fez. Uma característica
dos agentes destas reformas é sempre o de fazerem uma profissão de fé prévia
num relativismo: o que ensinamos não importa para nada porque não está adequado
às profissões do futuro, o que se aprende pelos meios tradicionais é esquecido,
o que avaliamos negligencia vários estilos de aprendizagem e vários tipos de
inteligência, etc. É caso para perguntar, nesta relativização do saber, se nas
profissões do futuro dois mais dois passará a ser cinco, se os poemas belos
passarão a ser feios ou se a hidrólise passará a decompor, em vez do hidrogénio
da água, urânio. Apesar de tudo, todas aquelas declarações têm alguma
verdade, mas têm uma intencionalidade fundamentalmente enganadora, pois são
seguidas pela apresentação de modelos que se destinam a encontrar sucesso seja
de que forma for, sobretudo pela eliminação de controlos rigorosos das
aprendizagens. Claro que dizem que não, que até a diversificação de
instrumentos permitirá um controlo muito mais rigoroso e diferenciado, mas aí
estes modelos confiam em algo que bem conhecem: a preguiça profissional.
Despejam em cima dos professores uma catadupa incomportável de exigências
burocráticas que tornariam a sua vida um inferno caso as cumprissem
criteriosamente. O resultado é que, a pouco e pouco, facilitam até que
finalmente se possa afirmar o sucesso global. A receita já é bem conhecida de
qualquer docente. De qualquer forma, esse sucesso não garantirá qualquer
preparação adequada para o acesso ao ensino superior que, de uma ou outra
forma, será feito por testes que terão sido minimizados ou relativizados no
ensino anterior.
Oitavo, tal flexibilização e tal avaliação independente
do prosseguimento de estudos já existe no ensino profissional e podemos ver o
que significa no acesso ao ensino superior. Porque não se apresentam os dados
quanto aos resultados obtidos por alunos do ensino profissional que se
candidatam como externos aos exames nacionais? É fácil ver porque não se fazem
tais estudos.
Nono, separar, por completo, como já ouvi muitos dos
entusiastas a afirmar e parece estar em algumas intenções de certos setores do
poder executivo, a avaliação do secundário do acesso ao ensino superior,
sobrevalorizando formas de avaliação discordantes das utilizadas nesse acesso,
não poderá deixar de significar um aumento do fosso, no secundário, entre o
ensino público e o ensino privado no acesso à universidade. Os pais e, por
vezes, os filhos não deixarão de ter ambições sociais e procurarão as
instituições de ensino que melhor garantirão o futuro. Estranhamente, a
esquerda, como considera negativas as desigualdades sociais, muito embora não
acabando com elas, não promove essa mobilidade social vertical que tem sido
propiciada pela educação, não vendo que, caso os seus desígnios sejam
realizados no ensino público, isso significará que se tratará de um ensino para
pobres ou menos abonados que só terão acesso aos cursos e às instituições de
ensino superior que os outros não quiserem.
Décimo, a maior de todas as falácias do nosso sistema de
ensino é a rejeição de que seja um sistema de seleção. É e tem de ser, e
tê-lo-ia de ser mesmo numa sociedade igualitária que não deixaria de ter uma
imensa diversidade funcional que haveria que satisfazer. Uma sociedade é um
todo orgânico e é necessário cumprir nesse todo uma imensa diversidade de
papéis. O sistema de ensino não surgiu para assegurar o simples cumprimento de
direitos, mas para assegurar e melhorar o funcionamento da sociedade. O facto
de ser seletiva não deveria, aliás, significar que fosse exclusiva. Um sistema
de ensino adequado à sociedade que serve deveria permitir descobrir um lugar
adequado para todos, parcialmente decidido pelas escolhas individuais,
parcialmente decidido pela exigência das funções. Isto é o que já acontece, embora
de forma certamente imperfeita, até porque os entusiastas que tenho vindo a
referir insistem em rejeitá-lo porque, não tendo conseguido fazer uma revolução
mais ou menos anarquista na sociedade, procuram fazê-la no sistema educativo,
mesmo em completa contradição com a sociedade competitiva, estratificada e
orgânica, com a esperança que a educação de hoje dê origem à revolução na
sociedade amanhã e pouco se importando com o sofrimento a que dão origem ao
estarem a criar inadaptados sociais incapazes de lidarem sequer com as
vicissitudes do mercado laboral. O sonho, aliás, desses revolucionários
encapotados não passa de um idílio sem substância como as referências de Marx,
no Capital, à sociedade comunista, sem autoridade, sem Estado, sem divisão fixa
do trabalho – e também sem existência possível numa sociedade industrializada, nunca mostrando como a sociedade sem Estado poderia provir do Estado socialista, da ditadura do
proletariado. Quanto ao sonho tecnológico de deixar de ser necessário trabalhar,
será possível nos países privilegiados enquanto o puderem ser. Para a maior
parte da população humana, isso não passa de um sonho sem substância que,
aliás, implicaria continuar a predação dos recursos do planeta até à sua
exaustão. Sim, porque o trabalho humano é renovável e até necessário para a
saúde quando não assume formas opressivas, ao passo que o trabalho maquinal usa
sempre recursos não renováveis ou não multiplicáveis do planeta.
Décimo primeiro, os entusiastas do modelo de dissociação
da aprendizagem do acesso ao ensino superior falam sempre aos professores de
forma paternalista, com a infinita compreensão de quem viu a luz e tem de ser
paciente para com os seres limitados que lançam as suas dúvidas e objeções.
Porém, essa luz dos entusiastas é, como todas as formas de fé, demasiado
unilateral. Pegam num determinado ponto de vista vago, por exemplo, a
aprendizagem em geral e acreditam piamente que o seu modelo será muito mais
adequado para as exigências do futuro. Assim que são confrontados com os passos
concretamente necessários para os nossos alunos poderem efetivamente realizar
as suas ambições, refugiam-se nas generalidades como as das profissões de
futuro, como se nessas profissões não se viessem a procurar, se tiverem
condições para as contratarem, as pessoas formadas da forma mais exigente
possível.
Por fim, as pessoas que, ao longo dos anos, têm mantido
as suas posições, seja de que lado for, ou que só as mudaram por uma evolução
intelectual própria merecem o meu respeito. Porém, essas são sempre
minoritárias. Também não vale a pena referir aqueles cujo único fito é ver onde
e como trabalharão menos. Tão pouco me refiro a tantos que se mantêm
prudentemente em silêncio. A maioria dos restantes estava há alguns anos a
exigir que os testes “sumativos” pesassem 85 ou 90% na avaliação e agora já está
a defender a conceção formativa da avaliação que está consagrada na legislação
desde os anos 90. Ainda há não muitos anos fui proibido, por tal maioria, de
ter uma conceção estritamente formativa dos testes (apesar de sempre diferentes
e muito mais rigorosos que muitos “sumativos”), muito embora a alicerçasse na
legislação, numa série de teorias pedagógicas e no próprio programa
disciplinar, e de o ter escrito em diversíssimos documentos. Na verdade, essa
maioria já passou por outras fases anteriormente. Se recuarmos aos tempos da Área-escola,
a maioria chegou a situar-se mais ou menos numa situação próxima da atual.
Agora diz que os DAC são diferentes unicamente porque aquela falhou e porque as
designações mudaram. E apesar de já saber isto há muito tempo, não posso deixar
de me continuar a perguntar: como se pode defender coisas tão contraditórias
num tão curto período, só porque a tutela dá uma diferente indicação? Não estou
a falar de obedecer. Eu sou funcionário, eu obedecerei. Estou a falar de
defender uma posição, estou a falar de pensamento próprio. Ou será que não o tem,
apenas seguindo o lado de que sopra o vento?