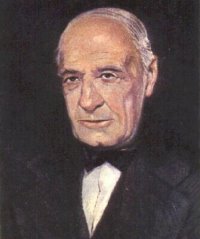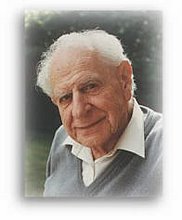A promoção de ovelha negra para traidor
Há quase meio século,
senti, pela primeira vez de forma clara, a diferença entre os dois estatutos.
Entre os 13 e os 14 anos, pertenci, durante uns meses, à União dos Estudantes
Comunistas, uma organização de juventude posteriormente extinta do Partido Comunista
Português. Durante esses meses, mesmo sem ser assim explicitamente nomeado,
gozei do estatuto de ovelha negra. Eu era o único que se atrevia, na sala de
convívio de um centro partidário, a referir como tal a aliança de 39 entre os
soviéticos e os nazis. Ela até podia ter existido, até podia ter legitimado a
ocupação do leste da Polónia e a anexação em 40 dos países bálticos e da
Moldávia, assim como a tentativa anterior de fazer o mesmo com a Finlândia. Não
podia era ser mencionada.[1] Logo surgia um membro do
Partido a dirigir-se exclusivamente a mim (apesar de se tratar de um diálogo),
dizendo que estava a incomodar os camaradas presentes no centro e salientando
que essas conversas deviam ser reservadas para as reuniões. Como é óbvio, nada
desses ou doutros assuntos jamais poderia ser verdadeiramente discutido nas
reuniões dos órgãos do partido por estar sempre fora da ordem de trabalhos. E
assim passei rapidamente de incómodo (a ovelha negra) a traidor, apresentando a
minha carta de despedida. No verão de 79, concluí rapidamente que não havia
perestroika nem glasnost[2] possíveis numa tal
organização e alcancei o superior estatuto de traidor. É, de facto, um estatuto
superior porque, ao ser odiado, passei a ser tido em consideração, ao passo que
antes era desprezado ou menosprezado, uma incomodidade desqualificada que se
poderia ignorar. Uma atitude alternativa surge, porém, para lá da mera
hostilidade, a atitude paternalista daqueles que esperam um regresso quando,
finalmente, se desfizerem as confusões que levaram à atitude de rutura. A carta
de desfiliação que referi nunca chegou a ser apresentada aos órgãos do partido,
soube-o mais tarde, porque um desses camaradas paternalistas a reteve,
esperando que acabasse por ver a luz e regressasse. Apesar de os outros
militantes me insultarem de traidor por todo o lado, não faço ideia quanto
tempo continuei a figurar nos registos como militante da organização. Julgo
mesmo que o amigo referido terá andado a pagar as cotas. Muito mais tarde, ele
próprio passou pelo mesmo processo, assim como muitíssimos outros, a
conta-gotas, sempre sentindo a solidão do gesto individual esmagado pelo peso
do coletivo.
Embora esteja longe de ter integrado um grande número de
organizações análogas, políticas, sindicais, religiosas, etc., cheguei à
conclusão que não era preciso pertencer a qualquer organização expressamente
ideológica para ocorrerem as mesmas atitudes acima descritas, por vezes
atenuadas pelo habitual estilo de brincadeira, de forma a covardemente poder
recuar face a uma confrontação direta. Que a sua natureza é a mesma, é algo que
se mostra, porém, na perda do estilo humorístico assim que existe uma
generalização à totalidade do coletivo. Afinal, o estilo de brincadeira só é
necessário se não se alcançar uma aceitação coletiva ou maioritária.[3] Por exemplo, se se for
efetivo numa escola pública, o que parece (parece…) não ter qualquer caráter
ideológico, a decisão de mudar para outra, mesmo se antecedida da manifestação
de múltiplas críticas e discordâncias, patenteadas de forma bem pública ou aos
órgãos competentes, acaba por ser exatamente objeto dos mesmos procedimentos.
Porquê? Porquê considerar traidor ou desertor alguém que simplesmente muda para
outra escola do mesmo sistema público de educação? Haveria algum compromisso ou
dívida que teriam sido defraudados, uma ausência de gratidão para com situações
passadas, vantagens alcançadas, favores, promoções, etc., ou a rejeição de uma
anterior adesão ou apoio de projeto? Imagine-se uma situação em que alguém que,
se encontra na situação de mudança acima referida, nunca foi beneficiado em
nada na sua vida pessoal ou, por exemplo, académica, sendo até explicitamente
recusada qualquer ajuda se em algum momento a solicitou, que chegou a ser alvo
de um processo ad hominem que prejudicou a sua própria atividade
docente, que múltiplas vezes sacrificou a vida pessoal para cumprir funções que
lhe foram solicitadas muito para lá das obrigações ordinárias, que nunca
beneficiou da menor redução letiva e até, por vezes, não letiva para concretizar
diversos projetos extracurriculares, ao contrário do que muitos outros
beneficiaram, que nunca teve qualquer vantagem horária similar às que muitos
outros tiveram, que nunca pretendeu ocupar qualquer cargo e só os ocupou por
ser obrigado a fazê-lo, que, apesar disso, sempre cumpriu todos os deveres
diligentemente, mesmo se discordava visceralmente do que estava a fazer, que
explicitou, múltiplas vezes, as suas discordâncias em relação ao rumo que
estava a tomar a escola, que avisou com grande antecedência que tinha a
intenção de sair – em que é que esse indivíduo traiu fosse o que fosse ao
pretender mudar de ares? Talvez por ter sido, no passado, avaliado
positivamente em termos de desempenho docente? Mas poderia uma escola ter
procedido de outro modo face às evidências existentes e até a uma avaliação que
era parcialmente externa? Será essa a justificação para ser alcunhado de
traidor, mesmo nem sendo mencionada a menor justificação?
Não. Estes procedimentos evidenciam simplesmente a
natureza dos coletivos, da gente como lhes chamo em tantos textos. Um aspeto
inicial central é que nunca importam as razões. Os indivíduos que se
identificam com os coletivos, ou seja, que não só lhes pertencem, mas que os
consideram como parte essencial da sua identidade, mesmo coletivos de que se
tornaram membros de forma acidental ou sem qualquer comprometimento ideológico
explícito, consideram qualquer crítica ou discordância um ataque que deve ser ignorado,
se possível, desdenhado, se necessário, combatido, se for sentido como uma
ameaça. Podem até existir alguns membros que façam críticas análogas, mas elas
são rapidamente subsumidas pela maior importância da pertença. Os poucos que
chegam ao ponto de sair do coletivo, a não ser que se desejasse, por alguma
razão, a saída, serão tratados como traidores mesmo por esses que, em tempos,
comungaram as objeções aos órgãos ou práticas do coletivo. Nem esses quererão
saber de quaisquer razões porque não pode haver qualquer razão que ponha em
causa a pertença. A partir do momento em que se abandona o “nós”, passa-se a
fazer parte dos “outros”, não outros indiferentes, mas outros contra os quais o
“nós” se erige, mesmo que não seja essa a única razão da constituição do
coletivo. Um jogador ou treinador de futebol termina o contrato com o clube.
Nada o liga mais ao clube, cumpriu os seus deveres para com o clube e vice-versa.
Tem toda a legitimidade para escolher o caminho a tomar na sua vida. Porém, é
contratado por um clube rival que lhe dá condições que o antigo clube não
estava disposto a dar. Logo, é tratado imediatamente pela massa adepta como
traidor. Pensar-se-ia que as escolas não deveriam se portar como clubes, visto
não estarem a concorrer entre si num campeonato qualquer. Pensar-se-ia mal. A
concorrência entre escolas é inerente à captação de alunos, mas tem sido ainda
mais estimulada pelas tutelas, de forma doentia, nas últimas décadas. Mais
grave ainda que abandonar o “nós”, importa a adesão a “outros” que o “nós”
desvaloriza constantemente como muito inferiores a “nós”. Isso é um insulto
inadmissível. O antigo membro passa a ser um “outro” especialmente odioso
porque evidencia que a pertença àquele coletivo não implica necessariamente não
só a sua aceitação, mas uma entusiástica adesão. O soldado não deve ser apenas
carne para canhão, deve sê-lo com intenso patriotismo, por muito que a pátria
nunca lhe tenha dado nada que justifique tal paixão para lá do simples
cumprimento do dever. O traidor ou o desertor é uma ameaça à própria
organização que tem de ser prontamente exorcizada.
Arcanos rituais são convocados para cancelar
definitivamente a ameaça: o insulto, a agressão, a injúria, a calúnia, a
ridicularização e a difamação, tudo práticas que os coletivos nunca chegam a
reconhecer como criminosas, exatamente por não serem feitas por indivíduos, mas
sim como manifestações da supostamente justa indignação da massa. Qualquer
indivíduo subsumido a um coletivo é capaz de atos bem piores que a história bem
mostra, mesmo se muitos ficaram silenciados e ocultados para sempre, extorsões,
intimidações, assédio, violações, linchamentos, autos de fé, genocídios, etc. O
que é um insulto, mesmo que reiteradamente proferido, comparado com um
linchamento ou até um genocídio? Assim, até parecerá inocente tal hostilidade,
sobretudo na fase em que é disfarçada com o tom de brincadeira. O traidor,
porém, provoca um gradual aumento da consistência do coletivo porque este, ao
ter de lidar com a ameaça, requer que as diferenças individuais se diluam no
exorcismo e este exorcismo é alcançado pelo repúdio generalizado da maioria, em
breve do todo (ou o que parece o todo, pois se tende a ignorar as exceções). A
pouco e pouco, ao menos face à ameaça, desaparece a pessoa e só persiste ou até
se gera o soldado que abdica de considerar quaisquer razões para se reduzir à
defesa do “nós” e ao ataque ao “outro”. Este é também um processo de expulsão
do ultraje, de forma a sarar o tecido coletivo, esquecendo a pessoa e
transformando-a numa coisa repugnante. Essa é, aliás, uma forma embrionária da
criação de uma predisposição para levar a cabo ou apoiar os crimes de guerra. Antes
de mais, é preciso desumanizar o inimigo, por exemplo, animalizando-o ou
diabolizando-o. Apesar de todo este processo terminar com a anulação da
importância da ameaça, o facto de ter tido de ser levado a cabo evidencia o
estatuto superior do traidor em relação à ovelha negra. A ovelha negra é na
melhor das hipóteses tolerada, pode ser denominada como tal até em eventos
públicos, humilhada aqui e acolá para assegurar que é posta no seu lugar, mas o
seu carácter vil e vergonhoso não ameaça o coletivo, é até sinal da
magnanimidade do todo social permitir que tal disfunção permaneça no seu seio.
O traidor, ao contrário, requer a convocação de todos, mesmo aqueles que
pareceriam antes pouco integrados, para lidar de forma uníssona com a afronta.
Isso chegaria para mostrar a sua maior importância. Mas não só. Se o visado
fosse alguém que se queria à partida expulsar do coletivo, ninguém se daria ao
trabalho descrito. Até poderia ser insultado, mas não como traidor ou desertor.
O facto de se ter o trabalho de o desvalorizar, até o seu valor ser totalmente
anulado, mostra que, à partida, se dava valor ao indivíduo. Ora, isso é o
inverso do que os coletivos expressam com a imagem da ovelha negra, um incómodo
certamente, mas, em geral, desprezado. O reconhecimento do estatuto de traidor
a alguém que antes era considerado uma mera ovelha negra é, por isso, uma
promoção.
De facto, a promoção é tão notória que alguns dos que se
sentem ofendidos com a traição, real ou imaginária, tentam redimi-la através de
súplicas ou de homenagens. A súplica pode surgir mesmo em casos em que a
atuação anterior dos suplicadores só poderia ser interpretada como um decreto
de expulsão. Mas basta se assumir a rutura que imediatamente a ovelha negra
aviltada pode voltar a ser considerada perante a possibilidade de se tornar um
traidor. Quanto a homenagens em tal caso, excetuando este ou aquele elemento bem-intencionado,
são uma forma de agressão contra a ofensa, um dar a outra face que procura
agravar o cariz da alegada traição. Em todos os casos, nunca ocorreriam para
uma ovelha negra, pois só o estatuto de suposto, eminente ou efetivo traidor
fornece a importância necessária para levar a cabo tais ações. Se Trotsky
tivesse permanecido na União Soviética como ovelha negra, para lá de morrer
muito mais cedo, seria mais um nome relativamente indiferente nas infindáveis
listas das vítimas de Stalin. Ao guindar-se ao estatuto não só de traidor, o
que era uma acusação comum e relativamente indiferente nos julgamentos de
Moscovo que nem requeria que o acusado fosse ovelha negra, mas o traidor por
excelência ao qual eram imputados todos os males e todas as ligações com as
potências inimigas que se iam sucedendo, Trotsky acabou por ser revestido de
uma importância inigualável. Diria mesmo que o atual esquecimento desse
estatuto de traidor, reduziu-lhe extremamente a importância, mesmo se ainda há
muitos membros da seita estalinista que referi no início do artigo que
continuam a zelar por lhe conferir tal distinção. Várias figuras da vida
partidária (nem vale a pena dar exemplos, são demasiado óbvios) reduzidas, por
justas ou injustas razões, ao estatuto de ovelhas negras, figuras totalmente
rebaixadas ou até achincalhadas, ganharam uma nova vida ao romperem com o
partido, podendo mesmo, mais tarde, ser recebidas de novo no mesmo partido,
após ter lutado explicitamente contra ele, com toda a consideração restaurada. O
mesmo se poderia exemplificar com transferências entre estações de televisão,
conselhos de administração, trocas de empresas por trabalhadores
especializados, etc. Na verdade, mesmo a traição individual tem o mesmo
resultado. Alguém desprezado pelo parceiro faz renascer o entusiasmo e/ou
nascer o ódio com a traição. Porém, a verdadeira traição a indivíduos parece
bem mais ignominiosa do que a traição a coletivos, mesmo que não seja
imaginária como várias das aqui relatadas. E isso ocorre por várias razões.
Em
primeiro lugar, a relação individual é uma relação entre rostos. A intimidade
dos rostos fica conspurcada pelas máscaras maliciosas que se interpõem. Pelo
contrário, as máscaras são inerentes ao existir social, são mesmo exigidas
constantemente, de tal forma que se é frequentemente condenado por não ter
afivelado a máscara devida. Pior ainda, se a comunhão de rostos se aprofundou
ao longo do tempo, qualquer cansaço, qualquer indiferença, qualquer ansiedade
deve ser comunicada, pode até dar origem a rutura, mas não deve tornar-se
suporte de traição. Quando se trai um rosto com a dissimulação de outro rosto
perversamente mascarado, perde-se a autenticidade da existência e ingressa‑se
no comércio obsceno das satisfações. Será sequer possível depois ter um rosto
autêntico? Em segundo lugar, como procurei mostrar neste artigo, os coletivos
consideram traição qualquer desvio à conformidade, não reconhecem direito à
pessoa a não ser como seu servo, perseguem a diferença como se esta fosse
inerentemente um insulto à sua identidade. Para sujeitar as pessoas, inventam
abstrações fictícias que tratam como se tivessem realidade substancial, civilização,
nação, classe, religião, partido, género, clube, até empresa ou escola. Um
aldrabão que talvez venha a ser primeiro-ministro deste país defendeu a
existência de um gene de ser português e a horda galvanizou-se
entusiasticamente. Mas esta é a natureza mistificadora de todos os coletivos. Rejeitar
essa imposição da sujeição nem traição é, é um grito de rebelião da pessoa
encarcerada, é uma simples manifestação de saúde de um ser humano enquanto
humano, é uma vitória precária da autenticidade de um indivíduo, de uma
existência. Em terceiro lugar, não é apenas nos regimes totalitários que se
eliminam sistematicamente as manifestações individuais por serem consideradas
uma ameaça sistémica ao domínio total. Talvez haja menos recurso ao assassínio
em massa, mas isso não significa que os coletivos não procurem eliminar de toda
a consideração possível todos aqueles que se destacam por alguma
particularidade, mesmo que essa particularidade em nada ameace o coletivo ou a
sua chefia. Ora, isso leva a que os coletivos, em situações regulares, sejam
absolutamente dominados pela mediocridade ou até por um nível que seria à
partida inferior à mediocridade. Muitos são os autores que sublinham que a
principal razão que levou à derrota estrondosa inicial dos russos na segunda
guerra foi a eliminação sistemática de toda a competência militar nas purgas da
segunda metade dos anos 30. De facto, nem conseguiram a vitória frente ao
modesto exército finlandês. Ao contrário, o regime nazi começa por usar toda a
competência acumulada no exército alemão, ainda não purgado ou rebaixado, e é
ao longo da guerra que essa competência é desbaratada e substituída pelos
lacaios ideológicos, nomeadamente submetendo o exército ao comando das SS. A
partir de 41, a incompetência germânica tornar‑se-á cada vez pior, chegando a
assemelhar-se à original dos soviéticos. Não conseguirão recuperar-se dela, até
por não terem a imensidão do território soviético que permitiu, devido à
situação de extrema emergência, voltar a selecionar os mais capazes disponíveis
(quando não criar de novo) de forma a poder responder eficazmente à agressão.
Porém, assim que acabou a guerra, novas purgas se livraram dessa nova perigosa
competência. Tudo isto foi descrito longamente por diversos autores e pertence
aos lugares-comuns da historiografia ordinária.
No
entanto, como descrever a incompetência extraordinária do exército francês em
40, acompanhada em grande medida pelos britânicos que depois se tentaram
redimir na batalha de Inglaterra? As próprias decisões da Iª Guerra,
praticamente de todos os lados, atingem tal nível de absurdidade (mortos aos
milhões para nada) que só podem ter na sua base uma extrema falta de mérito. E,
apesar de ser um governo autocrático apenas, ou seja, não totalitário, como
compreender a absurda colocação estática de tanques ao longo de mais de 60 Km
de estrada, no início da guerra da Rússia com a Ucrânia, que apenas serviu para
os esquadrões ucranianos fazerem tiro ao alvo? Tenho, aliás, a certeza que se
se investigasse a generalidade dos malogros das grandes potências, Vietnam,
Afeganistão para ambas, Iraque, encontrar-se-ia, por todo o lado o mesmo
predomínio da mediocridade. De onde me advém a certeza? Da verificação empírica
que é assim que procedem todos os coletivos em situações regulares. Se o podem
fazer, preferem afastar as simples sombras de ameaças e recrutarem pessoal que
se destaca por não se destacar em nada, que se afigura insuscetível de alguma
vez fazer uma crítica, muito preocupado em se conformar à conformidade e se
apresentar como inerentemente servil. É sabido que muita malícia e dissimulação
se oculta, muitas vezes, nesta atitude, mas até na falta de princípios desta
gente sub-reptícia os coletivos confiam sempre mais do que no mérito, pois
sabem que, em princípio, estarão dispostos a defender veementemente o que for
mais indefensável e trair tudo e todos para servir a chefia. A única forma de
os coletivos darem valor ao mérito é a existência de uma situação de extrema
emergência com a qual o coletivo de medíocres não consegue lidar. Na verdade,
tais coletivos são invariavelmente ineficazes e tendem a ser devorados pelos
mais diversos tipos de corrupção. Se um partido fascista desata a berrar
corrupção, mesmo que seja evidente ser um coletivo com estas mesmas
características, há sempre muita gente para o ouvir porque sabem bem a
sociedade em que se integram. No meu país, a condução da política de saúde
durante a pandemia foi desastrosa e errática sob diversos pontos de vista, mas
só quando se atingiram os piores números do mundo é que, finalmente, recorreram
a alguém mais competente, em determinadas dimensões, para pôr nos eixos a
campanha de vacinação. É preciso grandes crises para os partidos se livrarem
dos seus homens do aparelho e irem buscar alguém com mérito. Nos desastrosos
incêndios de 2017, a nomenclatura resistiu incólume aos primeiros desastres, só
sendo mudada na segunda fase – e não é claro que tivesse sido substituída por
algo melhor, havia a confiança que as próprias condições climatéricas tratassem
do problema (afinal já se estava em outubro).
Ora,
porque razão é que um indivíduo que sempre assumiu a sua responsabilidade a
título individual e que viu sempre os coletivos a lutarem sem freio contra
qualquer afirmação individual que não fosse a anulação do indivíduo para se pôr
ao serviço do coletivo, haveria de ter quaisquer escrúpulos em fazer algo que o
coletivo consideraria uma traição, apesar de não trair o mínimo compromisso pessoal?
Porque razão deveria ter qualquer deferência, para lá do estrito cumprimento da
lei, perante instâncias que não se coíbem de usar sem limites as competências
dos indivíduos, bem para lá dos deveres destes, sem nunca reconhecer o seu
serviço e sempre reconhecendo uma espécie de aristocracia da mediocridade que
só se destaca, não por um serviço, mas por ser servil[4]? Em tempos, quando
ingressei numa escola, deparei-me com um lema do seu projeto educativo que me
deixou estupefacto: pensamento coletivo. O PCP já tinha passado o período da
sua maior influência, mas convenci-me que ali se encontrava um reduto
subsistente da mesma. Estávamos já próximo do fim do governo Guterres. Ora, há
medida que o tempo foi passando, percebi que a escola estava mais alinhada com
o governo – de facto, ao longo dos anos, fui verificando que se alinhava com
qualquer governo. Como os coletivos não pensam, o lema referido apenas exigia,
na verdade, uma coisa: conformismo. Com o passar dos anos, foram também mudando
os lemas e até passaram a incluir ideias bem mais aceitáveis, mas todas elas
eram diversas formas de mentir. A única exigência que, de facto, se manteve foi
aquele conformismo do lema inicial em relação a tudo e mais alguma coisa que a
chefia decidisse. Mas, ao ser contratado, essa exigência não constava do
concurso, nunca a votei e muito menos a aprovei, antes pelo contrário. Porque
então seria uma traição minha a recusa desse conformismo ou de uma das suas
metamorfoses mais extremas?
Os
coletivos não criam nada, não resolvem nenhum problema, não produzem coisa
alguma. Pior, têm a tendência já referida a basear o seu poder nos piores ou,
ao menos, nos medíocres. O carreirismo é, habitualmente, uma mera competição de
estupidez. Como se consegue, então, avançar e fazer alguma coisa com valor?
Muitas vezes, não se consegue, mas, se houver necessidade de o fazer, o
habitual é conseguir o trabalho de alguém competente, sem lhe dar qualquer
crédito. Os governos não conseguiriam fazer seja o que for de meritório não
foram técnicos especializados anónimos que nunca serão referidos. A melhor arte
que pode ter um incompetente é conseguir tais serviços competentes – muitas
vezes, nem isso consegue por não ser capaz de discernir a competência. Eventualmente,
em períodos de grande crise, a competência pode ser reconhecida, mas o mais
provável é que essa competência resida exclusivamente na capacidade de
selecionar serviços de outros verdadeiramente competentes. Por outro lado, quando
se fala de um valor que transcende o mero funcionamento, muitas vezes o valor
de um indivíduo até pode vir a ser destacado, mas depois de já ter sido
sacrificado pelo coletivo. O coletivo extrai os despojos do sacrificado e
apropria-se deles à sua maneira, sempre de forma extremamente distorcida. Toda
a inovação, toda a criatividade, toda a compreensão provém de pessoas mais ou
menos isoladas que, invariavelmente, acabam por ser traídas pelas estruturas
coletivas, no mínimo não sendo reconhecidas ou só o sendo quando já não vale a
pena, por vezes após a morte, e de uma forma que adultera o seu contributo. O
coletivo precisa dessa inovação e criatividade, mas não está disposto a suportar
os próprios criativos quando brotam e florescem. Até o máximo, podem, aliás,
ser ridicularizados, difamados ou eliminados quer da memória, quer, em certos
regimes, da existência. E devo me preocupar com os veredictos dessas
instâncias? Ser considerado traidor por elas é um distintivo que me honra.
Ser
considerado ovelha negra pode ser até pitoresco, pode originar chistes bem
humorados e nada mal intencionados, pode até ser objeto de carinho e permitir a
identificação de um espaço próprio no seio de um coletivo, criar uma forma de
pertença, mas é sempre aviltante, uma forma da gente mostrar a sua
superioridade através da tolerância, um modo de mostrar a condescendência que
permite a uma ovelha tresmalhada, apesar de tudo, continuar a ser recebida no
rebanho, uma marca que identifica alguém como membro, certamente, mas com o
destaque de ser o pior de todos, o de menor valor, o mais desprezado, maculado
como enjeitado, como desqualificado, como inapto, como inválido. Aceitar
prolongar a qualificação de ovelha negra é aceitar um estatuto de exclusão que
deve estar grato pela compadecida caridade envolvente que até se dispõe a
suportar a presença insuportável, aceitar que a sua contínua depreciação se
torne coloquial, aceitar ser cada vez mais reduzido a um farrapo por
simplesmente ter medo de romper com o ambiente que o apouca. Na verdade, pior
que este estatuto só o da carneirada que anula a sua individualidade ou a torna
servente das determinações do coletivo, convertendo a possível pessoa num
títere sempre buscando sujeitar-se à conformidade, sempre pronto a apoiar os
maiores disparates das chefias, um invólucro do qual foi extraída toda a
autonomia que se supõe constituir a essência do humano. É verdade que existem
muitos que contemporizam, só colaborando o estritamente necessário para não
serem alvo de rejeição. É óbvio que não estão verdadeiramente empenhados no
coletivo, mas também em nada a ele se contrapõem – as experiências totalitárias
mostraram, porém, que é dessa massa pouco galvanizada à partida que depende a
extensão do poder até se tornar total, pois não tem resistências intrínsecas
capazes de se opor a uma ascensão emocional global. Ao menos, a ovelha negra
mantém uma teimosa resistência que é a condição de possibilidade do ser pessoa,
uma versão negativa da vontade que contém o embrião da autenticidade e da
diferença que recusa a adesão acéfala à verdadeira traição, a da anulação da
individualidade. É verdade que o humano é tudo menos racional e só muito
precariamente possui alguma autonomia. A espécie humana sempre se caracterizou,
maioritariamente, pela demência e pelo servilismo à demência. O totalitarismo
só confirmou esta verdade à exaustão. Mas o indivíduo humano é capaz de ser
mais, é capaz de ter como objetivo superar-se pela razão e/ou pela vontade,
sendo isso que o torna digno de respeito, mesmo que apenas por tentar. A
condição negativa para isso é a ovelha negra do coletivo, o que não vai por aí.
A condição positiva só pode ser atingida por um traidor segundo os critérios do
coletivo, embora não qualquer traidor, apenas um que renegue o próprio coletivo
para não se trair a si mesmo. Esse é o primeiro passo para o objetivo de ser
pessoa, se ser pessoa é algo merecedor do respeito devido a uma dignidade
especial e não apenas uma designação de um membro da espécie que, só por isso,
não possui qualquer respeitabilidade que o diferencie, que, só por especismo,
se pode considerar como possuindo um valor superior. Seja qual for o ideal que
vise realizar, é um objetivo porventura inatingível, mas cujo valor consiste em
exatamente tentar sê-lo. E só aí há a esperança da redenção da espécie de ser
mais que uma besta demente, esperança perenemente precária e eternamente
malograda, mas a única que, na verdade, vale a pena.
[1] Não é de admirar, pois só foi
reconhecida pela URSS no tempo de Gorbachov. Dado o PCP não lidar bem com este
consulado, tal como continua a negar as fomes do tempo da coletivização
forçada, é possível que continue a manter a mesma posição também sobre este
assunto.
[2] Mesmo não conhecendo, como é
cronologicamente óbvio, os termos na altura.
[3] Já descrevi o processo noutro
texto: Joaquim Lúcio, O Jazigo do Poeta, III – terra, 3ª ed., 2022, KDP,
p. 203.
[4] Frequentemente, servis para quem
considerarem acima, despóticos, para não dizer pior, para quem considerarem
abaixo. Nada é mais demonstrativo da falta de carácter que tão regularmente é
recompensada pelos coletivos.