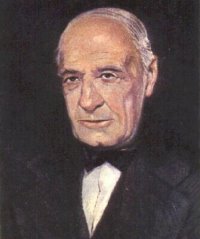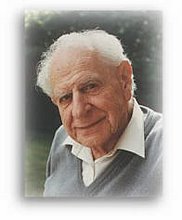9.10.23
1.9.23
Sob o signo da morte de Deus - I
No ano letivo passado,
mesmo no cair do pano, tive uma experiência insólita, mas, neste período,
expectável. Preciso, porém, fazer um percurso algo demorado para a explicar. As
DAE de Filosofia, seguindo uma verdadeira escola de ignorância que se faz
passar por escola de rigor e cujos prejuízos filosóficos nefastos espero exemplificar
noutro artigo, eliminaram toda a reflexão que era suscitada pelo tema do
anterior programa relativo à dessacralização do real na nossa era. Na verdade,
reduziram toda a abordagem da chamada (por norte-americanos e seus seguidores
noutras partes) filosofia da religião (na verdade, mera teologia natural ou
filosófica ou racional) à questão da existência de Deus, mesmo se é evidente a
existência de religiões não monoteístas e até ateias. Além disso, seguindo a
abordagem dita filosófica de certos teólogos dogmáticos, reduzem tudo a uma
justificação argumentativa do teísmo, abordado, aliás, segundo uma ótica cristã
não referida, mas constantemente presente. Fingem considerar outras perspetivas
ao abordar a repugnante aposta de Pascal (refiro-me só à aposta e não ao muito
interessante pensador que é, na verdade, totalmente ignorado nestas abordagens),
como se constituísse o fideísmo, e as elaborações posteriores do chamado dilema
de Epicuro, como se constituíssem o ateísmo. Diga-se, aliás, que ambas as
abordagens são, hoje e há muito, facilmente refutáveis (mesmo que certos
professores não tenham consciência disso, exatamente por não perceberem o
enquadramento dos argumentos, como é típico da abordagem atómica da filosofia
analítica), o que só serve para reforçar o teísmo. Outras abordagens como a do
paradoxo da pedra nem sequer atingem as conceções ortodoxas teístas há muito
consolidadas, apenas podendo refutar teorias como a de Descartes, cuja lógica
deixa muito a desejar (por exemplo, admitindo a possibilidade do impossível).
Toda a abordagem do anterior programa do agnosticismo (mesmo se aqui é fácil
recorrer a muitos autores analíticos) e do ateísmo, incluindo a referência aos
chamados, por Ricoeur, mestres da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud, foi
banida. Mas, na minha opinião, o aspeto mais pernicioso destas mudanças reside
não tanto na eliminação da crítica ateia ou agnóstica mais sustentada, mas da possibilidade
de tratar a crítica religiosa à perda de sentido do sagrado na suposta
religiosidade contemporânea.
Ora, embora em diversas turmas não tivesse tido tempo
para uma abordagem decente sequer do agnosticismo e do ateísmo, sempre que
ainda sobram uns minutos, procuro ter um tratamento breve deste último tema antes
permitido, a crítica religiosa à religião ainda existente. Esta poderia ser
feita com recurso a inúmeros autores, mas prefiro, habitualmente, recorrer a
Kant, Kierkegaard e Ricoeur. Por vezes, recorro à morte de Deus nietzscheniana
que, ao contrário do referido pela net,
não é nenhuma declaração de ateísmo (para isso, diria “Deus não existe”), mas
uma forma de expressar a dessacralização do real própria da cultura niilista
europeia e, por extensão, de todas as suas ramificações. A própria declaração
resulta de uma gradual evolução a partir de declarações cristãs, cada vez mais
interpretadas, ao longo do séc. XIX, no sentido da dessacralização do mundo. A
religiosidade de massas subsistente na nossa época tem uma consciência imediata
disso, muito embora se recuse desesperadamente a tomar consciência reflexiva do
facto. O maior vórtice de fé que existe no meu país revela bem isso. Em
primeiro lugar, existe uma redução à religião popular supersticiosa e milagreira.
O culto de Nossa Senhora, bem insustentável em termos teológicos, constitui uma
crença popular à parte, havendo inúmeros crentes de Fátima que nem suportam
tudo o resto que a Igreja oferece, incluindo os simples típicos discursos dos
seus padres. Na verdade, a essência desse culto é pagã e, por muito que a
Igreja declare o inverso, dizendo não se tratar de uma deusa, a sua adoração
demonstra o contrário e é característica do simples politeísmo. O mesmo se
poderia dizer dos cultos dos Santos. Aliás, há religiões politeístas que também
declaram as várias divindades como meras emanações ou avatares de uma divindade
única. Como os protestantes muito bem sublinham, é a idolatria das imagens que
melhor evidencia esta natureza. Mas o mesmo se poderia dizer (e diz-se) da
Trindade que a maioria dos protestantes também subscreve.
Por
outro lado, em Fátima, nenhum teor moral ou místico é dado à fé. Aquilo em que
se acredita é em poderes mais ou menos mágicos que, é certo, provêm de uma
dimensão transcendente de forma mais ou menos arbitrária, mas apenas para
satisfazer desejos imanentes. Vi vários vídeos e reportagens acerca dos
peregrinos que sublinhavam, sem cessar, o poder da fé para a realização de tais
sacrifícios. Ora, no percurso, os peregrinos encontravam postos de apoio onde
voluntários não remunerados tratavam as feridas dos peregrinos e aliviavam as suas
dores com massagens. Apesar de reconhecerem o mérito do seu trabalho, nem por
um momento ouvi ser referida a fé a esses voluntários. Pelo contrário, quando
se entrevistavam os peregrinos ou os crentes autoflagelados, para lá dos que
não declaravam motivos precisos, não havia um único que não mencionasse motivos
egoístas ou relativos ao círculo familiar mais próximo, nomeadamente através da
insólita e pagã figura do pagamento de promessas que concebe a relação com o
divino como um negócio, ainda por cima desconfiado, como se se tratasse de uma
empreitada, só aceitando pagar após o serviço feito. E, contudo, talvez ainda
digam que são cristãos e contem ser salvos por o serem. Mas o que é ser salvo
neste culto? Ser eleito no Juízo Final? Nada disso. Ser salvo é ser curado de
uma doença, resolver as dificuldades financeiras, conseguir realizar-se
profissional ou afetivamente. E é isso a que se chama fé nos media, a fé de que se será salvo, através
de poderes sobrenaturais, das dificuldades mundanas para poder gozar melhor a
sua vida nesse mesmo mundo. A única exigência requerida para ativar tais
poderes sobrenaturais é a fé intensa, sem haver qualquer tipo de exigência de
melhoramento moral. Daí, no exemplo acima referido, não serem exemplo da fé os
voluntários, mas os peregrinos, mesmo que apenas movidos por interesses
egoístas. Quem tivesse a menor atenção ao mandamento cristão fundamental, o
mandamento do amor, consideraria que quem estaria a melhor mostrar a fé cristã
seriam os voluntários e não quem só se mostrava movido por interesses próprios
ou particulares – mas não para esta conceção de fé implicitamente declarada e
corroborada pelos media. Aliás, nem
se percebe em que é que a autoflagelação pela autoflagelação que ocorre com
certos crentes agradaria mais ao Deus do amor do que, por exemplo, auxiliar em
obras humanitárias como o banco alimentar, a Caritas, as organizações não
governamentais de ajuda internacional, etc. De facto, o amor ao próximo é,
nesta fé, substituído pelo amor-próprio, incluindo essa extensão do
amor-próprio que é o amor aos familiares, amantes e amigos. Até já ouvi
católicos a fazer a reinterpretação que este amor particularmente interessado é
que seria o único amor ao próximo, por muito que tal estranha exegese distorça
totalmente o espírito do cristianismo. Por outro lado, se a conceção moral da
divindade é ignorada neste culto, a conceção escatológica do cristianismo não o
é menos.
De
facto, se há algo que é fundamental no cristianismo, mais do que o cumprimento
do mandamento do amor, mais do que o sacrifício em prol do próximo, mais do que
o esmagamento do desejo e da vontade subjetivas frente à transcendência
absoluta do ser infinito, é a promessa de salvação da morte, a morte inerente a
este mundo carnal do pecado. Ora, estes crentes referem-se imenso a serem
salvos, reproduzindo a simples linguagem médica e assistencial, ela própria já
equívoca, e não a linguagem teológica e escatológica, mas apenas para
continuarem a entregar-se a este mundo ou até, visto quererem ser libertados de
uma qualquer condição limitadora, poderem mais completamente chafurdar no mais
imundo pecado, poderem gozar mais plenamente a sua carne. Na recente pandemia,
ninguém vi mais obcecado pelas medidas preventivas mais extremas do que alguns
crentes. Talvez exista uma boa razão para isso. O tipo de crenças mais comum a
todas as religiões não é o relativo a divindades, mas sim o relativo a alguma
forma de vida para lá da morte. Essa vida para lá da morte até pode ser vista depois
como negativa, como no samsara hindú,
mas o facto de ter sido imaginada mostra uma motivação fundamental da religião
no medo. Mas se essa vida para lá da morte é apenas um alívio da ansiedade pela
imaginação, uma história infantil destinada a acalmar o sono, a manutenção da
crença pode apenas mostrar a preservação de uma estruturação mental pueril
assente no medo. Nesse caso, o que a motiva é um medo descontrolado da morte
que mantém a crença supostamente ingénua como último recurso se não conseguir
fugir da morte, uma derradeira consolação, mas cujo primeiro objetivo é evitar
a morte a qualquer custo. É claro que isso coloca um problema relativo à
sinceridade da crença quando essa crença afirma esta vida como teste para
decidir o destino na verdadeira vida e quando a eleição depende, em grande
medida, da libertação dos laços carnais. Tais crenças, se sinceras, implicariam
um desapego em relação a esta vida transitória, centrando-se, ao invés, a
preocupação no cultivo do merecimento da eleição. Reduzir as preocupações à
preservação gulosa e obcecada desta vida só pode ser visto como uma degradação total
e uma distorção completa da doutrina cristã. É muito provável que, no passado, a
fé escatológica fosse tão forte que muitos procurassem o desprendimento da
carne e aceitassem com alegria a libertação desta vida de pecado para poderem
aspirar à eleição para a verdadeira vida. Mas vivemos sob o signo da morte de
Deus. Ninguém acredita sinceramente em nada que não os ganhos obtidos aqui e
agora, e procura salvar-se não no além, mas no mais mesquinho e grosseiro
aquém. “Nossa Senhora salvou-me” – de quê? Da condenação eterna no inferno?
Não. De um cancro que provocava sofrimento e impossibilitava que eu levasse uma
vida normal. E o que é a vida normal? Uma vida de consumo, de concupiscência,
de vaidade, de corrupção, de pecado. Estranhamente, o salvamento da Senhora
parece ter os mesmos resultados que os tratos com o demo, a possibilidade de
gozar esta vida até a morte levar o crente. Mefistófeles oferece o mesmo que
Fátima. Em nenhum destes crentes, se mostra qualquer preocupação com o que
possa ocorrer na outra vida, a que, para o cristianismo, era, supostamente, a
verdadeira, ou com o que possa contribuir para merecer a eleição final, a única
pela qual valeria a pena viver.
Toda
esta conceção mundana da religião é agravada pela redução de todos os domínios
à mesma uniformização técnica da produtividade e do mercado. O mundo do mercado
e da tecnociência lida com grandes massas e estas reduzem a sua consciência à
reação imediata que o ambiente social solicita. As massas dirigem-se para as
mesmas praias, os mesmos hipermercados, as mesmas discotecas, os mesmos centros
históricos, os mesmos festivais, os mesmos santuários – e executam sempre os
mesmos gestos ritualizados, o mais depressa possível para não prejudicar a
produtividade e garantir a possibilidade de consumo igual para os restantes. Em
toda a parte, funcionários zelosos asseguram que tudo se processa com a maior
eficácia e que o consumo anterior não prejudique o posterior, de forma a
garantir a fluidez do lucro. A azáfama é igual em funerais, casamentos,
restaurantes, monumentos, eventos ditos espirituais, centros comerciais, competições
desportivas, etc. Tudo se destina a garantir a prossecução das cadeias de fabricação
e consumo, como se por todo o lado se reproduzissem as linhas de produção e
comercialização em série, seja de bonecos, seja de alimentação, seja de
competição, seja de iluminação, seja de morte. E as gentes gostam disto, um
caos regulado unicamente pelas suas necessidades de consumo, que não lhes exige
qualquer superação, mas que coloca todas as coisas ao mesmo nível, o nível que
consegue compreender e em que consegue viver. As gentes não querem complicações
doutrinárias, não querem práticas muito elaboradas, não querem exigências muito
complexas e rigorosas. Querem alcançar a graça divina ou o milagre da Senhora com
a mesma facilidade com que alcançam o produto na prateleira do supermercado.
Têm mais que fazer e com que se preocupar. Quanto mais depressa despacharem a
promessa, as velas ou as rezas, tanto melhor – e uma multidão espera para ser
agraciada de seguida. Na verdade, não há, no essencial, diferença entre os
diversos tipos de turismo (religioso, educativo, cultural, recreativo, etc.).
Em todo o lado, se reproduz a mesma natureza pelicular que se verte, em
seguida, nas redes sociais, evocando supostas experiências que não existiram,
um aprofundamento da compreensão que se reduz à sua declaração, um cultivo da
imagem própria que chega a substituir a vida própria na selphie que prova ter-se estado num dado lugar onde só se esteve o
tempo suficiente para tirar a dita selphie.
Em lado algum, a gente existe, para existir é preciso a complexidade autenticamente
estruturada da pessoa e não o condicionamento elementar e ambiental da massa.
Voltando
um pouco atrás, uma das críticas de Kant à religião popular incidia no facto de
procurar sempre se furtar quer à justiça divina, quer à exigência de
aperfeiçoamento presente na meta da santidade, refugiando-se na suposta
arbitrariedade da graça: “É árduo ser um bom servidor (pois então ouve-se sempre falar de deveres); por isso, o
homem preferiria ser um favorito a
que muita coisa se desculpa ou, se infringiu grosseiramente o dever, tudo se
resolve graças à mediação de alguém favorecido no mais alto grau, enquanto ele
continua a ser o servo solto que era. (…) Para alcançar a graça, aplica-se o homem a todas as formalidades imagináveis, pelas
quais se deve mostrar quanto ele venera
os mandamentos divinos, para não ter a necessidade de os observar; e para que os seus desejos inativos possam servir
igualmente para compensar a transgressão dos mandamentos, grita: «Senhor!
Senhor!» a fim de não ter a necessidade de «fazer a vontade do Pai celeste» e,
por isso, faz das solenidades (...) o conceito como de meios da graça em si
mesmos; faz até passar a crença de que são tal por um elemento essencial da
religião (o homem comum fá-la inclusive passar pelo todo da religião) e deixa à
Providência, toda bondosa, fazer dele um homem melhor, enquanto se aplica à piedade (entendida como uma veneração
passiva da lei divina), em vez de se entregar à virtude (ao emprego das
próprias forças na observância do dever por ele venerado)”[1].
Se esta conceção popular da graça era já absurda, o que dizer de uma graça
destinada apenas a satisfazer as preocupações mundanas, uma graça que não
perdoa o comportamento dissoluto, mas assegura antes a sua continuação ou até
agravamento? Kierkegaard espantava-se com a mistificação imensa daquilo a que
se chamava Cristandade: “Toda a pessoa dotada de um pouco de discernimento que
considera seriamente o que se chama cristandade ou o estado de um país dito cristão,
deve, certamente, cair na maior perplexidade. Que significa que tantos milhões
de pessoas se digam cristãs sem quaisquer dificuldades?!”[2] Há
já muitos anos, lembro-me de ter perguntado a uma aluna católica se tentaria,
ao menos, amar o seu inimigo. Respondeu-me que mais depressa lhe arrancaria “os
fígados”. O mandamento cristão é para a maioria dos cristãos, mesmo os que
mantêm alguma prática, letra morta ou até tão-só vazia. A maioria dos cristãos
“nunca compreendeu que pode ter na sua vida uma obrigação para com Deus”[3],
nem sequer vai à igreja, muda de canal se na tv surge um padre a falar (a não
ser que esteja envolvido em algum escândalo), não conhece nada da doutrina da
sua confissão e “faz de uma certa integridade física o máximo do seu ideal” –
daí, a religiosidade milagreira tantas vezes restringida à restauração da
saúde. Mais caricata ainda é a figura do católico não praticante. Costumo dizer,
nas alturas em que declaram isso, que eu também sou suicida não praticante. Se
se perguntar, em seguida, porque é então católico, a resposta quase invariável
é a de que acredita em Deus. Questionado acerca da razão porque não é
protestante ou ortodoxo ou judeu ou islâmico ou ainda muitas outras confissões
que acreditam em Deus, não consegue dizer nada. Quer praticantes, quer não
praticantes, ao menos entre os simples crentes, nada sabem da sua doutrina, não
sabem o que é a Trindade, nunca ouviram falar da transubstanciação, nem da
ressurreição dos corpos, nem de coisíssima nenhuma que seja próprio da crença católica.
Mas, sobretudo, mesmo entre os praticantes, não há nenhuma preocupação
escatológica, a paixão de Cristo é ignorada ou transformada num espetáculo, o
único desejo é ser feliz aqui e agora (como declaravam os jovens nas recentes
jornadas) e o que tem significado é a celebração dos gozos desta vida. Quanto
ao bem maior número de não praticantes, serão católicos ou cristãos em quê?
Kierkegaard
sublinha o facto de que ser cristão não é uma coisa fácil, mas, ao contrário,
muitíssimo difícil. O mandamento do amor ao próximo que tem como corolário o
amor ao inimigo é um mandamento de aplicação extremamente árdua. O mandamento
não diz: “respeita o teu inimigo”; nem diz: “não faças dano ao teu inimigo”;
nem mesmo: “trata bem o teu inimigo”; diz: “ama o teu inimigo”. Como o
amor-próprio me aconselharia a detestar o inimigo, o teor do mandamento exige
que eu o ame mais que a mim próprio. Como se pode, pois, aceitar que alguém
seja cristão se nem sequer tenta amar o próximo? Só porque o diz? Se um
banqueiro, toda a vida dedicada à acumulação de capital, declarasse que era
comunista ou anticapitalista, ser-lhe-ia dado crédito? Ser cristão é um ideal
que só se pode perseguir através da ação dedicada, do esforço, do empenho,
mesmo que sejam inevitáveis as falhas que acompanham o estatuto de pecador. É
preciso que ao menos se tente cumprir o mandamento. Não é cristão quem o diz, é
cristão quem merece, pelos seus atos, ser considerado como tal. Caso contrário,
a declaração de que se é cristão ou católico tem apenas um significado social,
a identificação da pertença vaga a um coletivo, sem o mais ínfimo significado
sagrado, sem qualquer sustentação doutrinária, muitas vezes sem sequer as
formalidades rituais. Tal declaração poderá ser relevante para a sociologia,
não para a religião. Do ponto de vista religioso, é uma blasfémia, uma
profanação, uma profunda falta de respeito para com o ideal cristão.
Ora,
a Igreja Católica tem total consciência de tudo isto, mas não lhe importa
qualquer verdadeira fé, importa-lhe alimentar essa ilusão de uma imensa
cristandade, porventura por tão-pouco acreditar nas suas próprias doutrinas e
lhe importar bem mais o seu poder neste mundo. Contabiliza como seus crentes os
tais católicos não praticantes, contabiliza até os batizados que nem se
declaram católicos, estimula a religião milagreira para objetivos imanentes,
contemporiza com toda a crendice blasfema ou herética que mistura as suas
práticas com as ditas “espiritualidades”, até promove eventos em que se
congregam curandeiros e videntes, bruxas e médiuns, todo o tipo de esoterismos
tradicionalmente condenados pela Igreja. Tudo lhe serve para tentar recuperar o
poder mundano. E preocupa-se em manter as suas exigências a um nível tão light que podem ser facilmente
consumidas por toda a gente. O próprio atual papa, alegadamente tão progressivo,
justificava a reação às caricaturas de Maomé, exatamente depois do massacre dos
humoristas ocorrido em França, através da legitimidade de esmurrar quem nos
ofenda. É natural: perdoar a quem nos tem ofendido, dar a outra face, são
exigências extremistas que o povo dificilmente tentaria cumprir – e a Igreja
recebe todos, todos, mesmo aqueles cujas práticas estejam nos antípodas dos
ideais cristãos, mesmo que os receba como pecadores e contraponha estes
pecadores aos justos que é difícil discernir quem são. Talvez os justos sejam
os sucessivos banqueiros (Jardim Gonçalves, Ulrich, Salgado, Macedo, etc.) que
se declararam diversas vezes, como poucos já o fazem na sociedade civil,
defensores da fé cristã e da necessidade da sua defesa, tão contrários à perda
de valores cristãos nesta nossa sociedade, mas certamente, como sempre, só para
os pobres, pois nunca os vi cumprir a exigência de Jesus no episódio do homem
rico.[4] E,
porém, é com eles e outros análogos que as mais altas esferas da Igreja se
sentem bem, para não dizer cúmplices, agora e pelo século dos séculos. A
hipocrisia desta gente e da Igreja, tão bem denunciada por Marx, tornou-se,
porém, muito mais difícil de sustentar quando os textos por eles considerados
sagrados se tornaram acessíveis ao comum dos mortais.
Ora,
voltando ao início, estava eu a tecer considerações deste tipo, não as do
último parágrafo, mas dos anteriores, quando um aluno declara: “O setôr é mesmo
ateu.” De facto, como os alunos já sabiam, sou mesmo ateu, mas o que eu estava
a tratar era a crítica religiosa à religião contemporânea, ou seja, a crítica de
pessoas profundamente religiosas, até de diversos pontos de vista (moral,
existencial, hermenêutico), à perda de sentido do sagrado. O aluno em causa
está longe de ser um aluno medíocre, é um aluno com uma inteligência viva,
interessado e atento, participativo e autónomo, mesmo que um pouco menos
estudioso do que deveria. Como poderia, então, considerar que as críticas
inspiradas em Kant, Kierkegaard ou Ricoeur tinham um teor ateu? Estaria
distraído? Confuso? Não, vive apenas nesta época e não deixa de ser reflexo
dela. Com o pouco tempo que tinha, apenas relembrei que estas críticas tinham
sido enunciadas por homens verdadeiramente religiosos, mas, se tivesse
possibilidade de uma explicação mais demorada, teria dito que a acusação do
aluno era reflexo do maniqueísmo grosseiro que domina totalmente os meios de
comunicação nesta era e que cria um ambiente generalizado de anulação das
distinções no pensamento dos indivíduos, para lá do alinhamento em duas manadas
opostas. Ou se é crente, ou não crente, e todas as distinções entre os crentes
são caladas para produzir um exército mais coeso, e todas as diversas críticas
dos não crentes são consideradas como pertencendo a um mesmo pacote, o do
exército oposto. O dogmatismo é notório de ambos os lados e, por vezes, até bem
maior, nesta época, do lado ateu. Mas é um dogmatismo cego que nem sabe ao
certo que doutrinas está a defender exceto a vaga tese do pró e contra a
religião. Se se está a criticar algum aspeto das crenças religiosas, mesmo
tratando-se do fideísta Kierkegaard, só se pode ser um ateu; se se defende
alguma crença, só se pode ser um homem de fé, de toda a fé, nem se sabe bem
qual, visto tudo pertencer ao mesmo pacote. A religião do padre Fontes é a
mesma da teologia de Aquino, a de Fátima é a mesma de Calvino, a de Francisco,
o papa que justifica a agressão, é a mesma de Jesus, a religião dos teólogos é
a mesma do povo, a religião moral de Kant é a mesma do fideísmo de Pascal, a
religião estatutária tradicional é a mesma da fé escatológica de Ricoeur? E, do
outro lado, as perspetivas de Clifford, Ayer ou Russell são as mesmas que o
panteísmo de Spinoza ou o ateísmo de Meslier, o ateísmo de Marx é o mesmo que o
de Mackie, a perspetiva de Nietzsche é a mesma da de Freud?
A
este maniqueísmo grosseiro instilado pela cultura popular norte-americana, já
seguido por outras (a europeia, a japonesa, etc.) de forma mais ou menos
acéfala, corresponde uma formatação do pensamento da maioria que se tornou
incapaz de sequer tentar compreender, não as diferenças mais subtis, nada para o
qual seja requerido o esprit de finesse,
mas apenas as mais elementares discriminações do espírito geométrico.[5]
Para tal, também muito contribui a irrelevância da religião para a vida
corrente, aquilo que é expresso pela declaração nietzscheniana da morte de
Deus. Noutras eras, a religião enquadrava toda a vida da comunidade pela
repetição anual dos rituais que tornavam de novo vivo o tempo sagrado, toda a
compreensão da realidade era determinada pelas crenças religiosas, nenhuma
prática, financeira, económica, moral ou política, era admitida se não fosse
sancionada pelos modelos sagrados. Hoje, aqui na Europa, mesmo um crente,
compreende o mundo através da ciência laica, regula os seus investimentos pelas
regras do mercado, segue as modas de vestuário mais hostis às conceções
religiosas, é condicionado constantemente pelas opiniões formadas pelos media, comporta-se, na sua vida afetiva,
segundo as mentalidades determinadas pelo mundo profano, pode até mesmo ter
comportamentos ostensivamente opostos aos da doutrina da Igreja que diz
professar (contracepção, orientação sexual, “espiritualidades”, etc.) – e
reserva um anexo remoto da sua existência para a sua suposta religião, um
último recurso para quando se sente aflito, ainda assim subordinado ao médico, ao
psicólogo e talvez ao guru. A reserva do próprio crente lembra a das visitas
aos túmulos dos falecidos. Há que ainda mostrar o seu respeito, mas a vida
segue, na sua quase totalidade, sem sequer se lembrar dos defuntos. Essa é a
maior evidência da morte de Deus e não as teses ateias. No final do célebre
texto da Gaia Ciência em que
Nietzsche declara a morte de Deus, compara-se as igrejas a jazigos onde os
crentes vêm ainda prestar homenagem ao Deus falecido. Deus morreu, não pelas
teses ateias, não por o homem se ter superado a si próprio e tomado o lugar do
próprio Deus, mas pelo mais mesquinho que existe no homem, por aquilo que é
ilustrado na imagem do último homem proposta no Zaratustra, pela pequenez da homogeneização que se ilude com
diferenças toscamente superficiais, pela nivelação que dispensou Deus por se
ter tornado incapaz de transcendência, pela impotência de olhar para lá do
ambiente próximo, de escutar algo mais do que o ruído da manada, de dizer algo
que tenha significado para lá das operações necessárias ao funcionamento
coletivo. Nesse ambiente, a questão de Deus está reduzida a um ridículo Benfica/Sporting,
um absurdo esquerda/direita, um acéfalo creio/não creio, sem a menor
profundidade ou compreensão, sem a menor intenção de explicitação, uma mera
escolha ao calhas, fútil, como comprar este vestido em vez daquele – e não se
nota a menor diferença entre as vidas dos que escolhem para um lado ou para
outro, pois tal escolha se tornou irrelevante. Qual a diferença entre as
declarações de felicidade dos jovens nas recentes jornadas e aquelas que foram
produzidas logo a seguir no Meo Sudoeste? E qual a diferença entre os
horizontes destes jovens e aqueles que são descritos por Nietzsche a propósito do
último homem? “«Descobrimos a felicidade», dirão os Últimos Homens, piscando os
olhos.”[6]
No
caos a que o último homem chama mundo, não há alto e baixo, não há superficial
e profundo, não há saber e ignorância, há apenas a reiteração da mesma pequenez
sem fim que confunde a imensidão do número com grandeza. Os likes substituíram a fala e em breve até
os slogans serão demasiado
complicados. A própria filosofia está reduzida a um cálculo binário que incinde
sobre esqueletos argumentativos elementares e atómicos. Nada se justifica senão
por objetivos utilitários imediatos e nada tem valor se não for objeto de
negócio. As críticas deístas, panteístas, agnósticas ou ateias não foram as
responsáveis pela morte de Deus, mesmo se contribuíram um pouco para ela. O plebeu
mesquinho que desprezava a religião através de um ateísmo prático mais ou menos
secreto tornou-se todo-poderoso e apenas estendeu, pelo número, o desprezo e a incompreensão
já antes sentidas. Este processo foi crucial para nos livrarmos de crenças e
práticas religiosas arbitrárias, muito mais que os argumentos de legiões de
filósofos, literatos e cientistas. Porém, associado à morte de Deus ou da
religião, ocorreu um processo muito mais grave e prejudicial para toda a
existência. É a morte do sagrado. Tudo se tornou venal e, logo, tudo se tornou
profano. Melhor, nem sequer profano, pois este depende da oposição ao sagrado,
mas boçalmente indiferente. A galhofa com que é recebido o louco que procura
Deus (o reverso do insensato dos Salmos)
no texto de Nietzsche é que matou não apenas Deus, mas a própria possibilidade
de sagrado. É minha convicção que, sem sagrado, a própria existência perde
qualquer sentido possível. Mas o sagrado não implica nem o teísmo, nem o
fideísmo, nem a escatologia. Este é o primeiro de vários artigos que dedicarei
à questão religiosa atual. Esta foi uma primeira abordagem da dessacralização
contemporânea. Voltarei a ela no final. Antes, porém, gostaria de rejeitar as
sucessivas restaurações do teísmo e fideísmo, denunciando-as como meras
restaurações de ilusões perniciosas. Na verdade, uma série de autores
procuraram dar razão à crítica ateia, corroborá-la, incorporá-la, para
pretender, depois, superá-la por aquilo que sustentaram ser a verdadeira
religião ou a verdadeira fé que, supostamente, teria ficado incólume após a
referida crítica. De tal “operação”, são exemplos Levinas e, sobretudo, Ricoeur.
É minha convicção que não passam de soluções requentadas que tentam desesperadamente
recuperar as velhas ilusões, recorrendo, aliás, para isso, a toda uma série de
truques camufladores de falácias grosseiras. Importa, pois, após seguir as vias
mais tradicionais da crítica ateia ou agnóstica, a analítica e a genealógica, o
confronto com estas “novas” propostas de restauração do divino. A clarificação
do ateísmo tem o desígnio de libertar a possibilidade de pensamento futuro de
toda a tralha teológica e fideísta que está a atravancar o caminho, provocando
regressões constantes e justificando as próprias tendências mais irracionais da
religião popular. Mas a afirmação ateia não implica a rejeição do sagrado. E
desconfio que, se se escavar suficientemente a tradição teísta ocidental, sem
necessitar de recorrer ao oriente, se poderá encontrar, na origem, esse sagrado
bem próximo do ateísmo.
Porém,
é irrelevante que se aceite ou não uma tal interpretação, o que importa é a
instauração de sentido aqui e agora – e um tal empreendimento é bem mais
difícil que a aceitação de uma reinterpretação do passado. Importa escutar, não
o além infinitamente distante, mas o emudecido, por esta época, mesmo aqui ao
pé; importa o zelo, o cuidado, a atenção pelo caráter único de cada acontecer;
importa gerar o possível, gizar o futuro, gestar a promessa de vida no cultivo,
no trabalho, na procriação, na própria obra; importa fazer o humano, por fim,
digno de si mesmo; importa demandar não o sentido transcendente alucinado, mas
o perdido sentido do aqui e agora; importa indagar o deserto da operatividade e
desvelar a transcendência inevitável da própria imanência; importa desdobrar a
existência compactada num invólucro utilitário e fazer florescer a palavra e o
discurso pela poesia e pensamento; importa dizer algo por si significativo e
não meramente funcional; importa inspirar, enlevar-se pelos odores da terra
ignota, ouvir a música das cores, falar verdadeiramente para o outro, ouvi-lo
como se nada mais importasse atender; importa compreender a incompleta
totalidade, a ignorância da origem, o mistério da alteridade; importa
importar-se e não negligenciar o mais ínfimo fragmento de ek-sistência; no caos
técnico sem freio da rapina, agressão e concorrência, importa persistir,
importa a resistência. E, se nada disto importar, não importa mesmo nada.
[1] Immanuel Kant, tr. port. Artur Morão, A Religião nos limites da
simples Razão, Ed. 70, Lisboa, 1992, pp. 201 – 202.
[2] Sören Kierkegaard, tr. port.
João Gama, Ponto de vista explicativo da minha obra como escritor, Ed.
70, Lisboa, 1986, p. 37.
[3] Sören Kierkegaard, op. cit.,
p. 38.
[4] Mateus, cap. 19, vers. 16-24;
Lucas, cap. 18, vers. 18-25.
[5] Referência a uma distinção bem
conhecida de Pascal.
[6] Friedrich Nietzsche, tr. port.
Alfredo Margarido, Assim falava
Zaratustra, Guimarães ed., s/l, s/d, p. 18.
Posted by quim at 14:23 0 comments