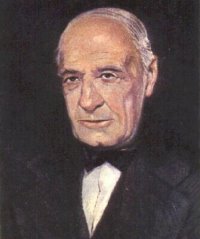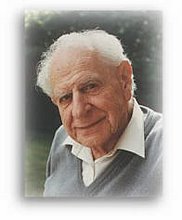“Só há um problema filosófico verdadeiramente sério: é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida, é responder a uma questão fundamental da filosofia.” Não seria de forma metafísica que Camus pensaria tratar a questão aqui referida no início do seu O Mito de Sísifo. Porém, como pressuposto, seja na fenomenologia, seja no existencialismo, seja até na filosofia analítica, a própria incapacidade de resposta da metafísica foi o propulsor original de tais vias. No caso do existencialismo, a incapacidade de resposta ou de resposta suportável para a questão “para quê?” está na origem do seu pressuposto mais fundamental, a absurdidade da existência. Essa incapacidade da metafísica foi magistralmente expressa por Kant na sua primeira Crítica e corporizou-se na famosa distinção entre conhecer e pensar. A metafísica especulativa, sem objeto a que se aplicar, era apenas pensamento e não podia ser ciência. Acontece que a abrangência da sua crítica só pecou por defeito e também as suas metafísicas da ciência da natureza e dos costumes não eram mais que pensamento e assim, porventura, será toda a verdadeira filosofia e até essa filosofia a que no séc. XVII, na recém-criada Royal Society, se chamou experimental. Sendo assim (e assim é de facto), a metafísica viu-se preterida pela ilusão dogmática, contrária à própria origem da palavra filosofia, de um saber que teria de ter algum tipo de absoluto, de certeza ou de exatidão. Se essa ilusão tem sido cada vez mais desmistificada, deixou de existir razão para manter a rejeição da metafísica, especialmente porque as suas questões não deixaram de continuar a questionar no inconsciente filosófico para onde a atividade crítica as recalcou – e, como na psique, muitas são as perturbações criadas pelos seus conflitos por resolver ou, pelo menos, por tratar. Pensar é tudo o que temos e já chega de pensamento com medo de pensar, quando nada mais alcança que o mesmo pensar. E se só isso nos resta, pensemos então.
Parece que todo o passado concorda que a vida merece ser vivida, mas isso pode resultar do aparente facto de só parecer ter sentido responder se a resposta for positiva. Se fosse negativa, a resposta seria o suicídio. Na verdade, não é bem assim. Schopenhauer é um bom exemplo de como pode ser dada uma resposta negativa à questão, não optando, porém, pelo suicídio. O mesmo se diga de todo o hinduísmo e budismo, do pitagorismo e platonismo, de várias escolas helenísticas, assim como do próprio cristianismo, muito embora este último recorra ao que Schopenhauer denomina os seus mitos populares para fornecer a promessa de uma outra vida, da qual dependeria todo o sentido desta por esta não o ter só por si mesma. Aliás, virando a linguagem de Schopenhauer contra si mesmo, diríamos que todas estas tradições, incluindo a schopenhaueriana, recorrem aos seus mitos para convencer os seus seguidores a, apesar de tudo, não praticarem o suicídio. Rejeitam esta vida mas não querem que se passe desta rejeição teórica para a sua efetivação prática e arranjam um mito conveniente para justificar que se continue a suportar uma vida sem sentido. Não deixa de ser caricato ver como Schopenhauer, depois de ter reconhecido a metempsicose como um mito para tornar acessível ao vulgo a verdade da existência, que a mesma é dor e se destina à aniquilação, justifica a rejeição do suicídio na necessidade de suprimir a “vontade”, incluindo a vontade de destruição. Para quê se as reencarnações são míticas? Mas voltaremos a este assunto mais adiante.
Sem pretendermos equiparar ou concorrer esses textos com bem mais ilustres tradições, toda a obra de Lúcio percorre a mesma contradição, a ausência de sentido da existência e, apesar de tudo, manter-se vivo. Esta contradição é, tal como em Schopenhauer, “resolvida” pela disparidade entre um sujeito separado e consciente das suas próprias representações, incluindo as que se referem a si mesmo, e uma instância que o transcende e lhe dá origem para realizar um devir indiferente aos objetivos subjetivos. A diferença está em que Schopenhauer fica preso no modelo da vontade, tudo interpretando, desde os desejos de toda a vida às forças cegas da física, subordinado a esse paradigma. Sempre nos pareceu inadequada a utilização dessa palavra para designar a dinâmica inevitável de todo o existente, pois a vontade encontra o seu correlato natural no verbo querer e só se diz “eu quero” relativamente àquilo que foi decidido pela deliberação da consciência subjetiva. Visto interpretar a partir daqui a origem de toda a dinâmica, não consegue deixar de pensar essa vontade metafísica, mesmo se reconhecidamente cega, como tendo desígnios, podendo, por fim, estes serem contrariados pela realização da supressão da vontade na consciência humana como puro sujeito universal de conhecimento. Em tudo isto, mantém-se um perfume teológico sem Deus explícito que permite a Schopenhauer a rejeição do suicídio. Na verdade, como dizia Marx de Hegel, toda a metafísica de Schopenhauer está invertida, trocando os pés e a cabeça. É exatamente o inverso, a vontade mais racional do imperativo categórico tem uma origem pulsional, é puro desejo irracional de infinito e incondicionado, e o próprio desejo que se revela na luta pela sobrevivência de toda a vida mais não é que consequência de reações químicas que já se procuram perpetuar nos priões e nos vírus, como puros efeitos da força que anima todo o universo. Um dos casos em que a noção parece corresponder à de Schopenhauer é a da força de vontade, algo de incompreensível que nos arrasta a cumprir o deliberado quando tudo nos força a desistir e que parece porvir de um fundo inconsciente que transcende o sujeito deliberativo. Ora, de facto, essa pulsão adiciona-se à vontade (o desejo deliberado), dando-lhe força, pelo que na expressão “força de vontade” o que escapa à deliberação é exatamente a força e não a vontade. Contrariamente à crítica de Schopenhauer, era Leibniz que tinha razão ao perceber que, sendo a dinâmica física algo análogo à dinâmica psíquica, o que estaria na base de todo o existente seria a força (redutível, aliás, aos dois atos monádicos fundamentais do apetite e da perceção), uma força, em geral, cega, inerente à impossibilidade de ser sem agir. Nesse sentido, modernamente, é Nietzsche e não Schopenhauer que, com o seu dionisíaco, mais se aproxima desta intuição fundamental da realidade, um devir arrasador de todo o apolíneo, sem desígnio, sem finalidade objetivada, a não ser a de, cegamente, prosseguir.
Pelo contrário, em Lúcio, a persistência da vida não se justifica, é remetida para uma instância inexplicável e impessoal de que o sujeito é uma mera marioneta, não por essa instância ter desígnios ou vontade ou ser individualizada de alguma forma, mas por ser incontível no seu devir que se espraia por uma miríade sem unidade de pulsões. Simbolicamente, chama-lhe terra, expressamente referindo o caráter meramente simbólico de tal designação, de forma a apenas remeter para uma instância indeterminada, necessariamente anterior à subjetividade e a toda a sua construção representativa, a toda a sua linguagem, uma instância ante-predicativa intuída por tantos pensadores como inevitável pressuposto da incompletude fenoménica e subjetiva. Se a linguagem de Lúcio por vezes resvala para aquilo que parece nova personificação numa espécie de teologia pagã, algo que, por vezes, também se sente no próprio Nietzsche, outras passagens tornam clara a rejeição, de qualquer personificação, qualquer desígnio, qualquer consciência reflexiva. Embora esta proto-metafísica esteja espalhada pelo Jazigo na sua linguagem para-poética que muitas vezes deixa a desejar por nem ser suficientemente poética, nem suficientemente filosófica, alguns textos mais prosaicos espalhados pelos vários volumes esclarecem um pouco melhor a conceção (1º vol., pp. 103-106; 2º vol., pp. 41-44; 3º vol., pp. 9-13, sendo este o mais importante para a questão aqui tratada; até certo ponto, no mesmo volume, pp. 275-276; e, finalmente, 4º vol., pp. 198-199).
Porém, neste artigo introdutório ao Clube de Metafísica, gostaríamos de nos confrontar com essa metafísica que tem tido uma expansão extrema no Ocidente, sobretudo, mas não só, entre membros do sexo feminino, proveniente das tradições orientais do hinduísmo, do budismo, do jainismo e do taoísmo, assim como de sincretismos destes. Não queríamos, contudo, fazer apenas uma imensa falácia do espantalho, pegando nas absurdidades que se têm feito por este Ocidente com essas tradições ou nas superstições ligadas, mesmo no Oriente, à religiosidade popular. Quanto a esta última, todas as religiões necessitam dos tais mitos na linguagem de Schopenhauer, para manter a sua força na sociedade. Como se poderia entender o cristianismo através das superstições e práticas de Fátima? Trata-se de uma religião para consumo popular que pouco tem a ver com o sentido fundamental da religião em causa, uma religião que precisa de espetáculo porque o povo se mostra incapaz de aderir a uma mera mensagem espiritual, precisando de ver manifestados poderes extraordinários como se só se entusiasmasse quando vê ou ouve relatado algo fantástico como a atuação dos super-heróis da banda desenhada e do cinema enlatado. Daí que não seja de espantar que, numa religião que, mesmo nos seus aspetos míticos, considera esta existência como um mero teste para a final e decisiva, para a salvação, possam existir cultos que só se preocupam com milagres que visem o prolongamento desta vida e o gozo nesta vida, e ainda concebam esses milagres como resultantes de uma espécie de relação contratual com o divino. Os antigos ritos pagãos ainda faziam sacrifícios para aplacar a fúria dos deuses, mas a chico-espertice burguesa já não vai na conversa: se o divino quiser sacrifícios, tem de primeiro fazer o serviço, nada de pagamentos adiantados. Que se possa sequer conceber uma tal relação com o divino ou os seus intermediários, só evidencia quão pouco “a gente” (tradução livre dos das man heideggeriano, a existência inautêntica) pensa.
Mas a absurdidade e o caráter contraditório da apropriação ocidental popular das tradições orientais são ainda mais diretos e flagrantes. Por estas redes sociais, não faltam miríades de associações da meditação e até, diretamente, do budismo e do hinduísmo com o espírito positivo, com o gozo da vida, incluindo a forma errada como se interpreta o famoso carpe diem, e com a busca totalmente egoísta da satisfação pessoal. De facto, estão constantemente preocupados em livrarem-se dos outros, para se concentrarem totalmente em si próprios, ou melhor, nos seus desejos e no seu prazer. O desapego defendido por essas religiões, desapego, em primeiro lugar, de si próprio e dos seus desejos, é transformado num desapego em relação aos outros e às responsabilidades próprias, para mais completamente poder desfrutar de si próprio. Vi um desses gurus a defender perante um auditório embevecido, como prática a ser seguida, uma ética da positividade que defendia que se ignorasse seja quem for que estivesse triste, deprimido ou cansado, visto isso ir trazer uma destruição do ambiente, rejeitando toda a negatividade com um “o que é que eu tenho a ver com isso” numa autêntica disciplina de sistemática insensibilidade social – e tudo era recebido por um auditório provavelmente, na maioria, cristão que parecia não reconhecer aqui qualquer ataque ao amor ao próximo e à compaixão pelos que sofrem. Por essas redes fora, multiplicam-se (menos agora, depois da pandemia) as afirmações de espiritualidade oriental que a reduzem a um mero cultivo do prazer e à defesa de um egoísmo desavergonhado.
Num mundo dominado pela mentalidade técnica do consumismo, tornado legítimo pelo domínio da ética utilitarista da maximização do prazer, é natural que se chegasse a um momento em que os indivíduos se “borrifassem” no prazer geral, para se concentrarem no único que podem usufruir – isto, claro, numa mentalidade apetitiva já incapaz dos prazeres superiores de Mill e em sentir prazer pelo bem do próximo. E é, de facto, reduzida a uma receita técnica que se deu a apropriação dessas tradições orientais, uma receita não para nos libertarmos de todo o desejo e da própria individualidade, mas para nos libertarmos das preocupações que impedem a nossa completa entrega ao desejo e ao prazer. Como receita destinada a obter a entrega à fruição, até se defendem aberrações como a meditação coletiva em grandes massas e visa-se inculcar em massa essa libertação de todas as preocupações, para permitir a concentração no positivo, ou seja, no cultivo do prazer. Para maior garantia desse hedonismo, agarram-se às superstições de origem oriental apresentadas como espiritualidade e apresentam o caminho da libertação de forma gráfica, como manipulação de energias em localizações do próprio corpo, os chacras, que permitiriam o aperfeiçoamento do espírito. De certa forma, é ilustrativo das confusões sem fim presentes nestas conceções e práticas uma página da net que acrescentava, após apresentar o símbolo de cada chacra, a seguinte frase: “Não condiz com aparência real.” Nem vale a pena o trabalho de explicar... A realidade é, nestes meios, reduzida a uma construção fantástica similar à fantasia dos jedi. Aliás, há páginas na net a defender que se utilize a Guerra das Estrelas como guia espiritual. Por fim, utiliza-se essas receitas refundidas tecnicamente, eventualmente marteladas com um palavreado pseudocientífico, como mais uma forma de obter a sujeição dos indivíduos, proibidos de manifestar outra coisa senão prazer (ou felicidade, como preferem dizer), conformismo que é, aliás, a razão para serem advogadas, primeiro, em empresas e, depois, nas escolas.
Ora, tudo isso é do ponto de vista verdadeiramente espiritual, se deixarmos de parte os interesses mundanos pouco dignos de uma pura abordagem intelectual, um disparate, aliás oposto ao defendido pelos textos mais inspirados e mais profundos dessas tradições – e é relativamente ao melhor delas e não ao folclore acima descrito que este artigo se dirige. Para elas, como para Schopenhauer, a existência individuada é sofrimento. Esse sofrimento é o resultado direto da busca do prazer. O desejo é a causa do sofrimento. Porém, não só esse desejo, como o indivíduo que o sente, são uma aparência. O ser individual é uma ilusão que fragmenta a unidade de todas as coisas e, por isso, ao cindir-se de tudo o resto, está numa constante insuficiência de ser, sente constantemente a falta e até a falta da falta no tédio. Ser individual é ser desejo, o desejo constitui o indivíduo como indivíduo. Desejo é sentir falta e como o desejo é constituinte, nenhuma satisfação o pode eliminar ou suprimir, pois mesmo um paraíso acabaria, num ser individuado, por enfastiar, por aborrecer. Por isso, se procura encher a vida dos privilegiados deste mundo com entretenimentos, tão variados quanto possível, para não arriscar qualquer confronto consigo mesmo, confronto com o vazio que constitui o eu próprio. E entre entretenimentos, busca-se esquecer da nossa condição mortal, vive-se de prazer em prazer procurando não tomar consciência da inevitabilidade de doença, velhice e morte. Longe de o fim dessas tradições ser o gozo desesperado, era fundamental o confronto com a natureza patológica da individualidade, o confronto com o sofrimento e morte, o confronto com o caráter ilusório da multiplicidade, de forma a poder suprimir sofrimento, desejo e o próprio eu, até à própria vontade original e universal na versão schopenhaueriana, de forma a fazer desaparecer o indivíduo fragmentado na unidade indiferenciada e eterna. Todas estas tradições (entre as quais, diversas ocidentais um pouco esquecidas) julgam possível através da meditação ou da oração, embora não como práticas alheias ao resto da vida, suprimir a raiz do sofrimento, suprimindo o indivíduo, ou desvelando o Eu verdadeiro como expressão do Eu superior universal, ou libertando-se no nada, ou suprimindo a própria vontade metafísica, ou submetendo-se totalmente a Deus, ou purificando-se, pela contemplação, na ordem cósmica, ou entregando-se a um caminho natural como o que é expresso por Lao-Tse com a noção de Tao.
Vamos, então, considerar o assunto de forma inteiramente metafísica. Para não complicar o assunto num artigo que deveria ser pequeno, restrinjamos o assunto à vida. A vida é, em primeiro lugar, desejo. Certas pessoas limitadas por considerações empíricas dirão que seres sem sistema nervoso não podem desejar. Num outro artigo, talvez possamos tratar essas questões epistemológicas. Por agora, apenas dizemos que antes de sabermos o que era um sistema nervoso, já sabíamos o que era desejo e que não temos de nos limitar a qualquer atribuição causal derivada de uma qualquer identificação empírica, por muito respeitável que seja. Esse desejo justificava o que queríamos e até justificava querer ir contra o desejo. De facto, até justificava termos acabado por fazer algo contrário ao que queríamos, como se fosse algo que nos dominasse independentemente da nossa deliberação. Mesmo nesse caso, sabemos o que desejamos, mas não sabemos por que desejamos, porque há de existir em nós inevitavelmente esse facto de desejar, porque sentimos sempre falta mesmo que não esteja em causa qualquer função orgânica. E mesmo nas funções orgânicas, para quê desejar sobreviver, para quê desejar outros, para quê buscar procriar? Os mais elementares organismos vivos tentam persistir pelo menos a duração suficiente para procriar. Para quê? Porque despendem todo esse esforço organismos que não têm sequer sistema nervoso? A velha pergunta leibniziana “Porque há alguma coisa em vez de nada?” encontra aqui um foco muito especial. De facto, seria muito mais fácil ser nada do que alguma coisa. Alguma razão haverá para se porfiar a ser alguma coisa. Os nossos materialistas mais clássicos procuram continuar o melhor que podem a seguir o paradigma mecanicista, mas este sempre foi incapaz até de explicar a dinâmica física. Aliás, a forma como foi defendido sempre foi metafísica, através do que já no séc. XVII chamavam romances físicos. Resulta um pouco ridículo que se procure mantê-lo na esfera da vida após fracassar naquela que servia de modelo.
Existe um telos cego em toda a vida e não faz sentido admitir qualquer telos se não existir algo pelo menos análogo ao desejo. A restrição empírica do desejo acima referida só obriga a quem o restringe a um determinado processo neurológico. O desejo fornece objetivos mesmo que cegos, apenas para sanar a sua falta ou desequilíbrio, como nos processos homeostáticos. A homeostasia até pode fornecer um modelo quase químico, mas deixa em aberto a questão: para quê buscar o equilíbrio e não o desequilíbrio, a ordem em vez do caos, persistir e procriar em vez de dissolver-se e aniquilar-se. Esse equilíbrio e essa ordem é pensada, em termos humanos, como felicidade. Nos termos atuais e provavelmente sempre em termos populares, confundiu-se essa felicidade com a busca do prazer e a fuga à dor, mas a busca do prazer e a fuga à dor é a raiz de todos os processos viciantes. Muitas vezes se ouve dizer que tal e tal substância é viciante, mas o que é viciante é o prazer imediato que produz. Não só todas as substâncias, mas também todas as atividades que produzem prazer são viciantes, se o indivíduo se entrega à busca descontrolada desse prazer. Daí que toda a ética antiga aconselhasse a moderação, a temperança, até a indiferença, ao contrário da prossecução da maximização do prazer da ética utilitarista. A busca desenfreada do prazer é o caminho mais garantido para a infelicidade e para sofrimento atroz. Mas mesmo que perseguido de forma comedida, o prazer sacia durante bem pouco tempo e a falta é sempre cada vez menos preenchida por aquele tipo de substância ou atividade. Daí que um hedonista procure variar os prazeres. Mas quanto mais se ceder à busca de prazeres, mais se aumenta o sentimento de falta de todo e qualquer prazer. E se satisfizer sistematicamente os desejos, sem qualquer tipo de dor, até a sua satisfação acabará por se tornar aborrecimento, fastio, tédio.
A falta que estimula qualquer ser vivo, o desejo que estimula os animais, no caso do homem é hiperbolizado, quer no desejo, quer no sofrimento, por poder ir para lá do facto de ter falta, do facto de desejar, e se interrogar “para quê?” Não é o “para quê” de desejar a comida, o parceiro sexual, a bebida, o conforto, o calor, o entretenimento, mas o “para quê” desejar em geral. E visto toda a vida ser desejo, este “para quê” estende-se à própria vida. De forma explícita ou implícita, essa consciência reflexiva é a raiz de uma muito maior capacidade de sofrimento no ser humano que determina quer a vida desesperada da dispersão em entretenimentos buscando olvidar a condição mortal, agindo como se fossemos eternos, quer a entrega angustiada à transcendência absoluta de um infinito que poderá tornar possível o impossível no além, um paraíso em que subsistam os indivíduos como indivíduos mas sem sofrimento, quer a busca da dissolução da própria individualidade num todo indiferenciado onde o sofrimento não possa ter lugar. Ora, é aqui que encontramos a mais funda discordância em relação às pretensões de Schopenhauer e, por extensão óbvia, do budismo e do hinduísmo.
Schopenhauer e essas tradições têm razão quando consideram que é impossível a felicidade absoluta, como é entendida no paraíso cristão, para o indivíduo enquanto indivíduo. Essa noção é autocontraditória, é um círculo quadrado. O indivíduo é indivíduo exatamente por desejar e o desejo ficará sempre insatisfeito para lá da satisfação mais momentânea. No tédio, o indivíduo deseja mesmo não tendo o que desejar porque desejar lhe é essencial. Esse desejo que é impossível, de facto, saciar é, em si mesmo, o sofrimento, não apenas como causa, mas na sua própria natureza. Schopenhauer tem razão ao considerar que mesmo as formas de sofrimento que parecem não corresponder a nenhum desejo, têm a sua raiz no mesmo porque, em geral, não temos grande consciência do desejo quando ele está satisfeito, só sendo ativado na insatisfação. Assim, a doença reativa o desejo de saúde que sempre, porém, nos acompanhou. Isso, aliás, mostra que, na nossa existência, longe de o positivo ser o prazer, o que é positivo é o sofrimento, sendo o prazer sentido como mera superação momentânea do sofrimento, ou seja, como negação daquilo que positivamente nos constitui. Se só houvesse aquilo que os hedonistas consideram positivo, o prazer, não sentiríamos nada, como não o sentimos quando temos sem interrupção o que desejamos, por exemplo, a saúde – aliás, como aí nada sentíamos, concentrar-nos-íamos naquilo de que sentíssemos a falta (ou seja, que nos fazia sofrer) e aí se concentraria a nossa busca de prazer e a nossa ação.
Considera Schopenhauer que essa condição pode ser anulada pela superação ou mesmo abolição da vontade através de um estado contemplativo/meditativo que nos transforma em puro sujeito universal de conhecimento. Algo similar era expresso por alguns textos hindus e algo análogo expressavam os budistas no nirvana ou os antigos ocidentais na purificação alcançada pela contemplação ou da ordem cósmica, ou das ideias eternas. Apesar de se desfazer como míticas das crenças na transmigração das almas, considera que o suicídio não pode levar a cabo essa anulação por ser a manifestação do desejo desesperado de não se conseguir o que se deseja e não uma anulação do próprio desejo. Só a anulação do próprio desejo garante a superação da vontade, não a mera vontade individual, mas o erro de todo o existir que constituiu a vontade universal cuja expressão (e não a essência própria) se fragmentou em indivíduos. Ora, até se poderia ter essa conceção se se pensasse, como no budismo, que a alma se libertaria de samsara, ou seja, do ciclo de sofrimento das sucessivas encarnações, supondo a persistência da mesma alma e não apenas as múltiplas expressões da vontade universal, ao aceder ao nirvana. Seria mítico e acrítico, mero fruto de uma imaginação desenfreada, mas ao menos perceber-se-ia em que é que atingir o estado de Buda poderia contribuir para a eliminação da raiz de todo o sofrimento, não apenas o nosso, mas o global. Agora, sendo a metempsicose mítica enquanto persistência do mesmo indivíduo, em que é que a anulação, no indivíduo, do desejo contribui para a eliminação da vontade universal? Ao morrer, os componentes do corpo, a expressão da vontade para Schopenhauer, serão reaproveitados pela vida na mesma dinâmica de desejo que nos deu origem. Os transes por que passámos durante a vida não afetarão em nada essa dinâmica e a sucessão das gerações continuará a nascer e a morrer em desejo e dor, nada se tendo alterado. E, se o objetivo era terminar com a individualidade própria raiz do sofrimento de cada um, não se percebe porque é que o estado de Buda ou algo análogo não se pode realizar num suicídio já não determinado pela falta. Por compaixão com aqueles que sofrem? Mas tal estado não supera definitivamente todos os apegos, mesmo o da compaixão? Não é também a compaixão uma forma de desejo?
Schopenhauer apresenta esse estado de contemplação pura como uma não-vontade, um não-desejo, mas sê-lo-á apenas da mesma forma como não se sente desejo na momentânea saciação. A necessidade de redobrar os estados de meditação mostra, aliás, que nada se atingiu de permanente e a falta sentida tem de ser colmatada. A isso, chama-se desejo. O mesmo, aliás, se busca no orgasmo. Aí, nos estados de mais puro prazer, o indivíduo deixa de se sentir a si mesmo enquanto tal, sente-se fundido não com o outro (pois não há distinção entre outro e o próprio), mas num todo indiferenciado e, por instantes, não há eu próprio por não existir qualquer falta. Aliás, não deixa de ser curioso que os instantes de mais pleno prazer se fundem com o desejo que lhes parece contrário, o desejo da morte, o desejo de anular definitivamente a individualidade, regressando definitivamente ao inorgânico donde se sente que nunca se deveria ter saído. Schopenhauer parece supor que buscar a anulação da vontade é algo contrário ao desejo, mas, na verdade, sentimos desde sempre, junto à pulsão de vida que nos convida a desejar objetos, a pulsão de morte que nos leva a desejar livrar-nos desta maldição que é desejar. Desejar! É tão desejo uma como a outra, o estar cansado da vida dá origem a um desejo de a superar, a abolir, a anular, um desejo que se satisfaz de forma transitória todos os dias no sono, que se satisfaz de forma ainda mais precária no orgasmo ou através de estupefacientes ou na fruição da arte e que alcança uma satisfação igualmente precária, por muito que a tentem apresentar como permanente, nos transes místicos. Porque, imaginemos, atingimos o estado de Buda, percebemos o caráter ilusório de toda a multiplicidade, identificámos a raiz de todo o sofrimento, superámos a condição individual e experienciamos como, de facto, todas as coisas são uma e todos os apegos não passam de ilusões vazias indiferentes para a verdadeira realidade, o transe leva o indivíduo a deixar de o ser no nirvana ou, como diria Schopenhauer, deixa existir em si o puro sujeito universal de conhecimento, sem qualquer vontade – e depois? Sai do transe e não tem desejo de urinar, de dormir, de comer (mesmo que pouco), de beber, de calor, etc.? Aliás, alguma vez deixou de desejar respirar ou apenas se sentiu tão satisfeito que era como se já nada desejasse, como no desejo de saúde quando temos saúde, não deixando, porém, o desejo de estar sempre presente? E, se sente todos esses desejos, como pode ter atingido um estado liberto de todos os desejos? Ou apenas finge, provavelmente até para si próprio, não os ter? E essa simulação é diferente em quê de outras ilusões? E, quando a morte chega, destrói mais a individualidade do que o suicídio em quê a não ser que se acredite na mítica imortalidade ou, pelo menos, na mítica persistência da alma individual, caso se não tenha atingido o estado de Buda?
A contradição schopenhaueriana é, aliás, sentida por ele próprio pois reconhece que a vontade universal terá o cego desígnio de se anular a si própria. Sendo assim, para quê ter vindo à existência? Aqui, muito filosoficamente, Schopenhauer suspende o juízo devido ao facto de tal questão estar para lá da ordem fenoménica e da consideração da sua origem não objetivável que o mero fenómeno indica, para lá do facto da razão revelado pela experiência interna da existência da vontade em nós. Aliás, esta busca do universal presente no sujeito universal, no verdadeiro eu, corresponde à aspiração mística da Filosofia que, desde a sua origem, procurava mostrar como tudo é um, como tudo pode ser um, como tudo vem do uno e ao uno regressa, etc. Essa aspiração também está presente no incondicionado visado pelo imperativo categórico kantiano e, em geral, em toda a projeção filosófica do todo, do infinito, do universal. Schopenhauer percebeu a fundação pulsional dessa vontade humana que só se satisfaz no universal e no incondicionado, mas parece ter-se esquecido desse facto quando almeja esse mesmo universal e incondicionado no suposto sujeito universal de conhecimento. Não existe desejo mais desenfreado, mais absoluto, mais louco que o desejo que se expressa nas projeções da razão, um desejo que não se pode saciar com nada limitado e, assim, só busca saciação no que transcende por completo o indivíduo onde apesar de tudo essa razão se sedia. Essa cisão entre as limitações do indivíduo e o desejo que só se pode saciar no ilimitado, no universal, no absoluto, é o que constitui o inferno especificamente humano. Projetar tal ilimitado na imortalidade individual, no incondicionado filosófico, na ordem cósmica e/ou ideal, no paraíso, no nirvana ou em qualquer outra projeção do universal infinito, é sempre negar as limitações do indivíduo de que, de facto, o indivíduo não se consegue libertar. Julgar que se atingiu alguma coisa aí é sempre apenas uma forma de se iludir, uma ilusão triste e caricata para qualquer um que a veja de fora, mas a que se entregam os crentes com toda a força da sua fé, qualquer que seja, pois preferem a ilusão ao confronto com a triste realidade, a de estarmos condenados à nossa individualidade, mesmo quando sonhamos superá-la.
Aliás, a consciência disto permeia muitas destas tradições. Muitos são os koan zen que evidenciam a absurdidade de se procurar o apego ao desapego, agarrar o inagarrável, desejar o não desejo. Do mesmo modo, Lao-Tse tenta transmitir, desde as origens lendárias do taoísmo, a inautenticidade de se tentar agir uma não ação: "O Tao que se procura alcançar não é o próprio Tao". Essas tradições parecem, aliás, tanto mais sensatas, quanto mais comedidas se mostram e mais se assemelham às recomendações dos autores clássicos e helenísticos do Ocidente a respeito da felicidade. Contrariamente ao delírio da maximização utilitarista do prazer, da sociedade comunista, do paraíso, do nirvana ou ainda da anulação da vontade, os antigos viam a felicidade como um lento e comedido cultivo de si próprio que, sobretudo, se autodisciplinava em relação aos prazeres que, longe de trazerem felicidade se prosseguidos sem limites, só viciavam e davam origem a uma existência miserável. Para alcançar essa sabedoria feliz era preciso cultivar o mesmo desapego dos orientais, a apatia, a indiferença, a autarquia que permitia criar uma ilha interna liberta de todas as contrariedades exteriores. Mas, sobretudo, era fundamental a disciplina de não tentar alcançar o que não estivesse no nosso poder. Isso não significa que não houvesse projeção do universal, antes pelo contrário, nada escraviza tanto o indivíduo como o apego ao individual e particular. Porém, esse universal servia para o cultivo de si próprio, para a paulatina realização da sabedoria num contentamento feito de moderação, temperança e equilíbrio. A ilusão de superar o individual é tão grande e potencialmente tão causadora de sofrimento como a de se apegar ao individual, como se alguma coisa aí houvesse que agarrar, nesse fluir de multiplicidade descontrolada, apesar de todas as tentativas técnicas de o domesticar, uniformizar e anular. Não por acaso, os seres pertencentes a seitas místicas parecem a quem os vê de fora tão zombificados quanto comunidades de toxicodependentes – e não é por acaso – porque o seu fim é o mesmo, o de alcançar um prazer (felicidade) absoluto não maculado por qualquer mínimo sofrimento ou sequer pressão. Tal como os toxicodependentes gostariam de estar constantemente pedrados até à morte, também os místicos gostariam de estar num permanente transe ou êxtase, conforme a mística seja mais oriental ou ocidental.
Francamente, não sabemos se mesmo a “receita” da filosofia antiga é exequível ou se é ainda apenas uma outra forma de ilusão. Certamente, houve casos muito similares aos orientais entre pitagóricos e platónicos (incluindo, naturalmente, os neo). Mesmo entre os restantes (peripatéticos, estoicos, epicuristas, cínicos), não sabemos se não se tratariam de novos casos de publicidade enganosa. Sabemos que a loucura que tomou o nosso mundo atual, a loucura do consumismo desenfreado, da realidade toda entendida como mercado e da agressão industrial do planeta, não seria possível em qualquer dessas éticas (as segundas). A verdade é que o cultivo do indivíduo como indivíduo, considerado como um átomo sem ligações que não sejam a da exigência de satisfação a tudo o resto, não pode deixar de dar origem a uma entidade miserável por muito que consuma. Mas isso ocorre por o indivíduo ter perdido noção do que ele próprio era. Na verdade, tratam-se de dois extremos absurdos, o da busca de satisfação individual através do consumo desenfreado e o da busca da anulação do individual através do universal, do divino, do indiferenciado, do incondicionado, do infinito, do absoluto. Um indivíduo, mesmo o indivíduo humano, nunca foi nada sem o universal. Ele é individual na medida em que realiza um padrão universal, o da espécie, prévio e a que pertence inteiramente. Para lá das pertenças naturais à vida, ao reino, à família, ao género (estou a referir-me às taxonomias biológicas e não a construtos socioculturais), à espécie ou ao sexo, existem muitas outras pertenças sociais e culturais que nos antecedem e nos formam, sem as quais nada somos. Tão fartos de ouvir histórias míticas da formação de sociedades a partir de indivíduos isolados, esquecemo-nos que sem a inserção social nem humanos seríamos. O “menino selvagem” nem a bipedia tinha adquirido. Em todos esses casos, estamos a realizar planos porventura cegos que nos transcendem, mas sem os quais nada somos.
Podemos querer atingir a santidade, o estado de Buda, o verdadeiro eu, a graça divina, o caminho do Tao, a universalidade incondicionada, as Ideias transcendentes, o Espírito Absoluto, que, na verdade, o que ficará, para lá dos nossos delírios, mas incluindo os nossos delírios, será a forma como contribuímos para a sociedade, a cultura, a espécie e a vida – e isso será talvez mais feito pela forma como compramos a nossa comida, como produzimos bens e serviços, como votamos ou participamos na vida política, como procriamos e criamos os nossos filhos, do que pelos nossos delírios que mesmo quando não sejam passageiros, não impedirão que todos os atos próprios da vida continuem a prosseguir. E a mais cabal demonstração disso está no facto de todas essas tradições cansadas de ou mesmo contra (nos casos ascéticos) a vida e a sua luta e multiplicidade tentarem encontrarem pretextos para se evitar o suicídio. Na verdade, se o seu objetivo fosse verdadeiro, não haveria razão nenhuma para rejeitarem o suicídio. De facto, nem haveria razão para rejeitar carregar no botão das bombas. Arranjam um Deus formatado para garantir uma conceção de justiça que proíba o suicídio ou uma causalidade do karma que garanta maus efeitos para tal ato ou simplesmente uma superação incompreensível da vontade metafísica, para, apesar da sua condenação desta vida e do seu desejo e do seu sofrimento, continuarem a vivê-los – e, ao vivê-los, continuarem a realizar tudo o que realizariam sem os seus delírios, meras marionetas da vida e da espécie e da sociedade, sem qualquer titereiro a manipulá-las, pois estamos a falar de forças múltiplas e, por vezes, até contraditórias, cegas, sem consciência reflexiva, sem personalidade, sem sequer individualidade. Ser plenamente conscientes de nós não é pois nem desejarmos sem freio, nem julgarmo-nos algo que deve ser anulado num incondicionado. Ser plenamente conscientes de nós é ter consciência de quanto a nossa condição individual é insuperável, mesmo sendo ilusória, quanto ela nada é sem a pertença a ordens universais que a superam e quanto aquilo que decidimos e deliberamos na nossa consciência individual tem pouca importância na determinação da nossa própria vida, estando como está a nossa consciência limitada por forças que a transcendem, forças que a usam como um instrumento e que estão presentes em tantas ações nossas que tendemos a pensar como muito racionais, quando na verdade seríamos incapazes de explicar qual o fundamento.
Serve este artigo como um exemplo de uma posição numa temática de natureza inteiramente metafísica, mas suscetível de uma discussão onde as mais diversas perspetivas podem e devem estar presentes, nomeadamente as religiosas e até as científicas. Como neste caso, não ocultaremos as nossas posições, mas isso não significa que não estejamos dispostos a confrontar-nos com outras, a debater todos estes assuntos e muitos outros. Diz-nos a experiência que, mesmo que não se alterem as posições – e esse não é um objetivo do Clube – o diálogo é sempre enriquecedor e permite sempre o aprofundamento argumentativo de cada conceção. Esperemos que o projeto seja aprovado e que possamos contar com a vossa participação.
Nota final: Por diversas vezes, usei linguagem de Schopenhauer com a qual não concordo. Chamei a atenção para a divergência na palavra vontade, mas não na palavra mito. Por razões que não vale a pena agora explanar, não subscrevo inteiramente esse uso da palavra.